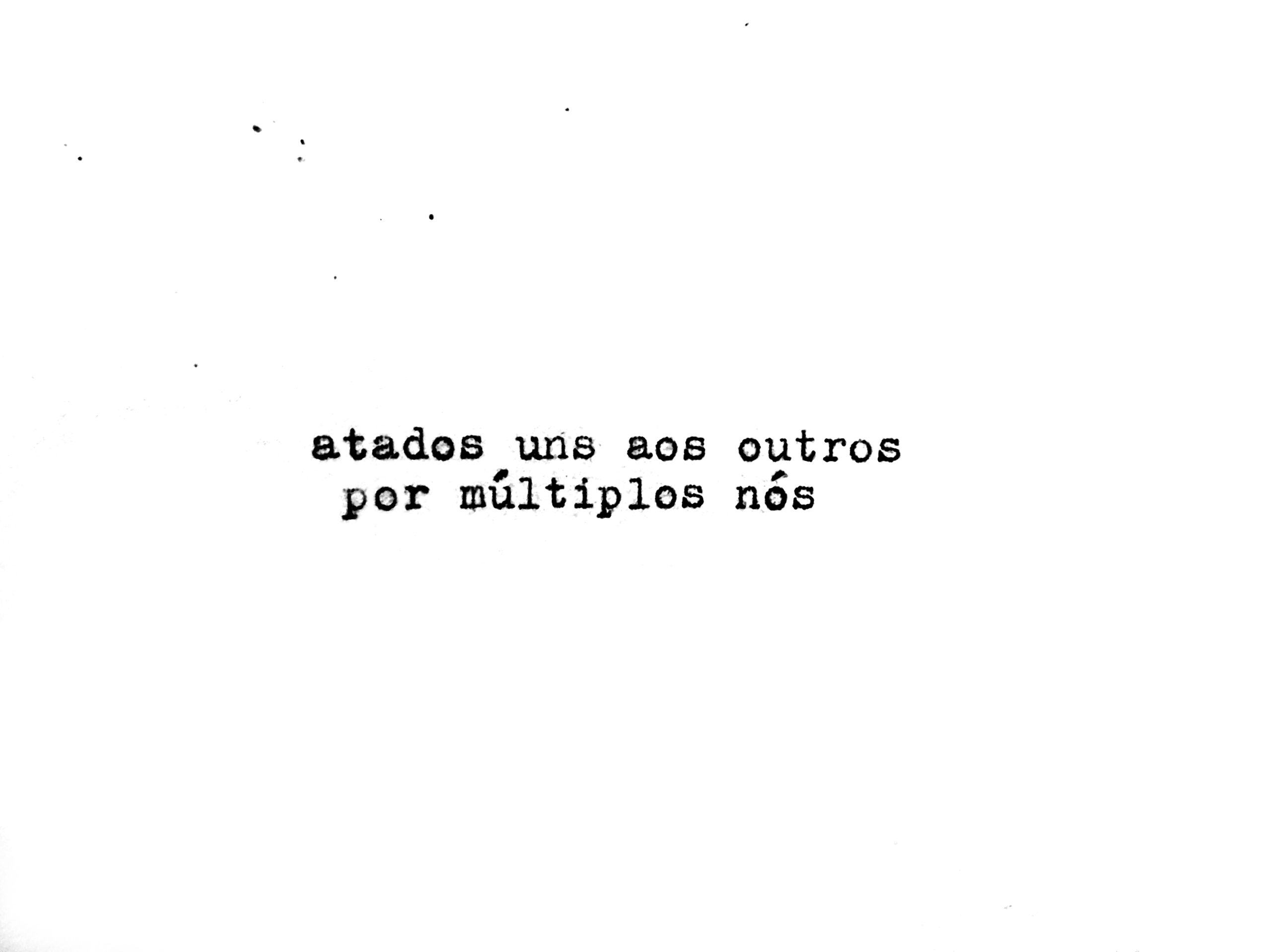
desenho de Daniel Guimarães
Conversa organizada pelo grupo Contrafilé na Clínica Pública de Psicanálise, no primeiro semestre de 2019, com a participação de Graziela Kunsch. A conversa foi transcrita na publicação Escola de Testemunhos – material de estudos para aulas-performances, realizada pelo grupo por ocasião da exposição Meta-arquivo: 1964-1985, com curadoria de Ana Pato em parceria com o Memorial da Resistência, Sesc Belenzinho, 2019
Devolver afeto à história
Grupo Contrafilé
Tecendo a manhã
João Cabral de Melo Neto
Um galo sozinho não tece a manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro: de outro galo
que apanhe o grito que um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzam
os fios de sol de seus gritos de galo
para que a manhã, desde uma tela tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.
E se encorpando em tela, entre todos,
se erguendo tenda, onde entrem todos,
se entretendendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão
[poema compartilhado por Kwame Yonatan, por trazer, como ele nos contou, “a importância do testemunho”]
Ao longo deste nosso processo de pesquisa, conforme adentramos o vasto mundo dos arquivos pela via dos testemunhos do Memorial da Resistência, fomos sentindo desejo de aprofundar nossa própria compreensão acerca do testemunho como produção de pensamento, de memória e de prova; gesto vivo, político, clínico e educativo de construção da história. Por isso, convidamos para um bate-papo alguns coletivos que trabalham ativando testemunhos tanto do passado, quanto do presente, fazendo-os, inclusive, convergirem em muitos sentidos. A conversa aconteceu em maio de 2019, na salinha da Clínica Pública de Psicanálise, no canteiro aberto da Vila Itororó, e teve participação de Graziela Kunsch[1] e Kauã Santana[2], pela Clínica Pública; de Kwame Yonatan[3], pelo coletivo Margens Clínicas; e de Lucas Sanches[4], pelo projeto História da Disputa: Disputa da História.
Uma definição de testemunho
Grupo Contrafilé: Sabemos que a Clínica Pública, o Margens Clínicas e o História da Disputa: Disputa da História são grupos que têm um trabalho com a escuta, com a fala, com o testemunho; e, a partir de suas experiências e percursos, queremos pensar o testemunho como um lugar educativo, para reconhecer, nele, o que a gente aprende, o que o testemunho ensina, por isso estamos aqui juntas/os…
Graziela Kunsch: Queria pedir uma coisa antes, que pode ser um exercício legal para todos/as nós. Uma vez que toda a discussão vai ser sobre testemunho, como explicar essa palavra para o Kauã? O que é testemunho? Kauã, elas estavam explicando que são artistas e estão fazendo uma pesquisa em um arquivo que tem depoimentos de pessoas que, de alguma forma, foram vítimas da ditadura no Brasil – a época em que o país foi governado por militares e muitas/os foram presas/os, torturadas/os e/ou assassinadas/os. Elas, do Grupo Contrafilé, estão pensando esse processo desde a ditadura até hoje e, por isso, há aqui nessa conversa pessoas que trabalham com vítimas da ditadura e da violência de Estado também no presente. Não é só sobre quem, por exemplo, foi assassinado lá atrás. Tudo que aconteceu nesse período tem consequências também nos que sobreviveram e em novas gerações, filhos, netos, outras pessoas das famílias… E uma das formas de a gente saber o que se passou e o que ainda se passa é escutar a história dessas pessoas… e isso vai ter relação com testemunho… mas eu preferia que alguém explicasse, talvez o Kwame, uma vez que o Margens trabalha bastante com a ideia de testemunho.
Kwame Yonatan: É, usamos bastante essa palavra. Testemunho é uma história que você conta. Testemunho é essa tentativa de dar sentido àquilo que você passou. Então, o testemunho tem duas direções: para quem escuta e para quem está falando. E quando damos o testemunho de alguma coisa, também nos escutamos falando, contando a história, repensando sobre aquilo e como aquilo nos afetou.
Lucas Sanches: Por exemplo… na igreja. Você vai à igreja, Kauã?
Kauã Santana: Sim, vou.
LS: Na igreja sempre tem um momento dos testemunhos, né? Esse momento é bem importante, é quando as pessoas ativam, digamos assim, com palavras, a memória delas, elas põem a memória delas para fora. Acho que essa é uma dimensão do testemunho.
GK: Ao falar a partir da nossa memória, a gente pode perceber o que aconteceu com a gente, tomar consciência daquilo que viveu. E ver que a nossa história individual é também, muitas vezes, uma história coletiva. Kauã, achei fundamental sua presença aqui hoje, por estarmos na Vila Itororó, que foi, e ainda é, um lugar de disputa. Você conhece essa história melhor que todo mundo aqui. Eu conheci o Kauã bebê, em 2006, quando ele tinha um ano, aqui na Vila. E quando nos reencontramos, pouco antes de o canteiro de restauro da Vila abrir para a cidade, em março de 2015, o Kauã estava aqui com uma de suas tias e com sua avó, e muito curioso com tudo, tentando se lembrar de como tinha sido morar aqui e tentando entender essa história, por que tiveram que ir embora em 2011. Perguntava tudo. Aos poucos, você foi construindo um testemunho a partir de sua memória. E de seus desejos também. Você não deixou essa história só no passado; você sempre me fala que queria poder voltar a morar aqui
KS: Aqui é muito melhor que morar num apartamento, porque aqui existe espaço. O apartamento é fechado, não tem tanto espaço, tanto lazer como a gente tinha quando morava aqui. Na rua a gente não tem espaço para jogar bola, por causa dos carros… aqui, não, aqui isso era comum, no pátio não passava carro, e aqui havia show, festa, já houve até filme feito aqui, havia muitas coisas…
KY: Kauã, a Grazi acabou de dar um testemunho sobre você. A partir da Vila Itororó, ela fez um testemunho sobre você. É isso. Isso é o testemunho, de uma forma sintética. Essa palavra, testemunho, ela é muito ligada ao policialesco… Da polícia, e parece uma palavra meio neutra, meio morta, sem afeto. E o processo é exatamente o contrário. O testemunho traz, de novo, o afeto para a história. Esse é o problema do arquivo morto, é uma coisa distante, mas quando vemos o testemunho, nos encontramos com as pessoas, é muito diferente, existe um traço vivo.
GC: Isso é muito importante. Você pode falar um pouco mais para a gente sobre o afeto do testemunho?
KY: O testemunho tem uma particularidade, é uma narrativa que consegue, de alguma forma, atualizar o presente. O testemunho sobre a ditadura militar, para nós, do Margens Clínicas, ressoa como uma forma de mobilizar um afeto que vem do silêncio, da gestão da invisibilidade, desse governar para fazer desaparecer, para produzir desaparecimento. Nesse sentido, acho que o testemunho só faz sentido quando ele toca, quando consegue, de alguma forma, transmitir mais que o conteúdo, então ele tem essa funcionalidade de produzir laço quando ajuda a nomear alguns afetos. A gente fez uma conversa pública, por exemplo, com trabalhadores de políticas públicas, sobre qual a relação da precarização dessas políticas, hoje, com o que aconteceu na ditadura, e conseguimos lembrar que, na ditadura, a primeira política pública precarizada foi a educação. E fomos conversando sobre como isso reverbera hoje. O testemunho trata-se, então, de você não guardar aquela história, mas deixá-la reverberar, tanto em quem escuta, quanto em quem conta.
GC: A gente tem pensado muito nessa dimensão do falar e do escutar – inclusive o falar e o escutar como “arte”. A história oral é uma prática ancestral, e nós, como coletivo, praticamos muito esse modo de contar histórias com as pessoas e outros grupos com os quais trabalhamos. Fica óbvio que esse não é um saber ocidental, europeu, mas é um saber que vem de várias origens culturais, com suas diferentes cosmologias e particularidades. Pensando nisso: por que vocês estão trabalhando com isso? Por que esse lugar mobiliza cada um de vocês?
A clínica pública de psicanálise
GK: Vou contar sobre a origem da Clínica Pública de Psicanálise e como pensamos testemunho, e é importante dizer que eu e o Dani (Daniel Guimarães, psicanalista cofundador da Clínica) preparamos esta fala juntos, mesmo que ele não esteja aqui de corpo presente. A Clínica Pública nasceu em 2016, aqui no canteiro aberto da Vila Itororó, onde continua existindo. Foi imaginada como uma forma de não esquecimento da violência que se deu nesse contexto – a retirada forçada de moradores para a construção de um centro cultural. Ainda que moradores tenham assinado um acordo e recebido apartamentos parcialmente subsidiados pelo governo do Estado e pela prefeitura, não puderam escolher permanecer aqui; não couberam no projeto de Cultura da prefeitura, o que, para nós, caracteriza uma violência
A Vila Itororó tem uma história de moradia, luta e resistência, na área central da cidade, que não pode ser esquecida. E esse não esquecimento se dá tanto através do testemunho direto dos portadores dessa história – os ex-moradores – para integrantes da Clínica, como na percepção, por parte daqueles, de que sua história é legitimada e reconhecida socialmente. Os ex-moradores são o motivo, a razão de existência da Clínica nesse contexto, e não em outro, mas a ideia é que não fiquem presos a essa história. Que possam, através do testemunho, um dia, tornarem-se “ex-ex-moradores”, se assim desejarem. A Clínica faz essa mediação. Mesmo tendo uma maioria de analisandos que vêm de diferentes cantos da cidade (e não apenas ex-moradores), em todas as nossas aparições públicas (falas, textos, materiais permanentes), fazemos questão de reforçar essa origem, o sentido desse contexto específico de atuação. E os ex-moradores acabam sendo, de certo modo, coterapeutas na cidade. Porque a história deles é também a história de muitas outras pessoas e de muitos outros lugares, todos consequências das disputas espaciais desejadas pelo mercado e mediadas, autorizadas, executadas pelo Estado.
O não esquecimento dessa história e sua legitimação tornam possível que essa parte da vida dessas pessoas seja integrada a sua vida psíquica. A coisa não dita, não elaborada ou, pior, silenciada, caracterizaria um não acontecimento, geraria uma lacuna. Lacuna, vazio capaz de produzir sofrimento, dúvida, culpabilização própria e uma série de outros efeitos imprevisíveis. Não falar sobre, não existir história sobre, produz efeitos psíquicos. Neste caso, inclusive, efeitos intergeracionais, porque se trata de famílias, de pessoas que nasceram, cresceram e continuarão uma linhagem familiar com essa parte de sua história, agora, talvez, integrada, podendo ser contada, e não voltando como sintoma, no futuro. Sintoma no sentido de não compreensão da própria história, não só pelo sujeito que a viveu, mas, ainda mais grave, por aqueles que ainda virão.
Então, apostamos nos efeitos psíquicos saudáveis da fala testemunhal, que implica a escuta daquilo que está sendo dito, de maneira a testemunhar, reconhecer, legitimar o que está sendo dito, no lugar de duvidar daquilo que está sendo dito por motivos de interesses em disputa.
GC: Você falou sobre a lacuna, é muito interessante, isso me fez entender essa lacuna que a mudança violenta da paisagem provoca, em todos nós, produzida por uma série de decisões autoritárias do Estado e do mercado.
GK: O sentimento nem sempre claro de impotência, de não pertencimento… O testemunho é importante justamente para produzir sentido. Sem o testemunho, ou seja, se essa história não é elaborada através da fala, se ela não é reconhecida e legitimada através da escuta, isso gera uma lacuna no próprio indivíduo que não pôde elaborar sobre essa história. É uma lacuna psíquica, vamos dizer assim, um vazio, que pode ser inconsciente. E esse inconsciente é tanto individual como social. A coisa vai para outra escala. A gente pode pensar desde o indivíduo até a sociedade, a cidade, apagando sua história.
A história da história
LS: Eu sou historiador, faço parte do coletivo História da Disputa: Disputa da História, que é uma proposta de história pública, de compartilhamento de memórias. O principal trabalho do coletivo, neste momento, tem a ver com os testemunhos do Memorial da Resistência, como vocês já devem estar a par. Sobre a oralidade, sobre o testemunho, eu acho que, como sou historiador, vou contar a história da história. No pensamento ocidental, muita gente diz que o primeiro historiador de todos os tempos foi Heródoto, porque foi o primeiro cara a concatenar, em palavras escritas, o fluxo dos acontecimentos do homem no tempo. Assim, ele tem essa fama de ser o primeiro historiador. Mas ele só foi o primeiro que escreveu sobre história, o primeiro de que a gente tem registro, é bom explicitar isso. A história que a gente pratica hoje é bem diferente daquela, e ela tem relação com o fim do século 19; nesse período, pensava-se que a história só poderia ser contada tal como aconteceu. E essa narrativa se baseava nos grandes monumentos e nos documentos escritos, então, a história dedicou boa parte de seu tempo a investigar esses escritos, por exemplo, se eram verdadeiros ou não ou quais palavras se repetem de um documento para outro.
No começo do século 20, essa ideia da história foi mudando, mas o grande ponto de transição foi a guerra, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. No entreguerras, já havia uma crise acontecendo, que produziria mudanças. E, a partir da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa viveu um trauma enorme – e o trauma tem esse potencial de ter que ser exposto, ter que ser falado como testemunho –, os historiadores começaram a pensar em quanto vale o testemunho, uma vez que, por exemplo, os papéis dos nazistas não diziam que eles matavam gente em campo de concentração, depois os documentos vieram à tona, mas as pessoas falavam sobre isso antes de os documentos estarem visíveis.
E qual a importância disso? Aonde eu quero chegar? A gente começou a dar mais valor para os testemunhos, os historiadores começaram a dar mais valor para a história oral. Enfim, muito tempo se passou, estamos agora no século 21, e ainda continua essa ideia de que o testemunho, a memória das pessoas, falada, contribui muito, tanto quanto a memória escrita sobre determinado objeto. Essa perspectiva, para nossos fins, da História da Disputa, é mais próxima à história pública, ou seja, é uma história que pode ser compartilhada por todos e é composta por todos; acho que é importante pensar no testemunho como algo extremamente plural. O testemunho nunca se repete; na minha opinião, a palavra escrita pode se repetir, mas o testemunho nunca se repete. Se você perguntar para uma pessoa, hoje, ela vai falar uma coisa e, amanhã, vai falar de outra forma. Então, por isso é interessante comparar os testemunhos, comparar o que as pessoas falam sobre o mesmo tema, até porque acho que a posição que se toma no presente define a concepção que se tem do passado. De qualquer forma, para mim, não se pode, enquanto historiador/a, abdicar de uma busca por algo próximo de “verdades”, mesmo se estas não forem convenientes ao nosso discurso presente. E essa busca acontece a partir de testes às provas do passado, que são os documentos em sua variedade, sejam quais forem eles.
O testemunho como construção de memória
KY: A partir do que vocês foram falando, eu me lembrei de um vídeo do Mateus Aleluia, não sei se todo mundo conhece, um cantor fantástico, negro, velhinho… Nesse vídeo, ele descreve como nasceu a arte: nasceu do homem nas cavernas vendo aquela beleza toda e desejando testemunhar aquilo que via.
Fiquei aqui pensando nisso, que não é o tempo que passa por nós, a gente é que passa pelo tempo. A gente vai construindo uma perspectiva sobre o tempo e, nessa perspectiva, dando sentido às coisas, significado, direção, sensibilidade para isso. O testemunho vai construindo nossa realidade também. O Eduardo Galeano fala que não somos feitos de átomos, somos feitos de histórias. A história que a gente conta sobre nós mesmos, como a Grazi fez agora há pouco com o Kauã, a história que a gente escuta de nós, “quando você era pequeno, você era assim…”, então, o testemunho tem essa função quase existencial, ele dá preenchimento a nós, a como enxergamos o mundo. Pensando na Clínica, isso traz algumas questões importantes: como a gente conta nossa história e como a gente é contado pela história?
Eu vou dar um exemplo que atravessa a mim e ao Kauã: dia 13 de maio de 2019, a abolição fez 131 anos, mas esse é um jeito de contar a história da abolição, que confronta com o dia 20 de novembro, que é outro jeito de contar essa mesma história. Por quê? Dia 13 de maio carrega a história de que alguém veio e concedeu a liberdade aos escravizados, uma pessoa branca veio e assinou nossa liberdade. E não foi isso. A maior parte das pessoas escravizadas na abolição já estava livre. Isso muda a história do Brasil. Se você for pensar, para que, então, serviu a abolição da escravatura? Para contar a história de um jeito, para testemunhar de um jeito. E, como contraponto, o 20 de novembro carrega a história da resistência. O dia 20 de novembro marca uma conquista do movimento negro, foi uma reivindicação: “a nossa história é dia 20 de novembro, com Zumbi, não fomos passivos”.
Por que estou contando essa história, dando um testemunho sobre nossa abolição? Porque o período pós-abolição tem muito a ver com a maneira como a gente conta nossa história coletiva, que é uma história muito violenta, mas também de muita resistência. E se a gente não coloca a ditadura militar dentro desse escopo de violência, a gente não entende por que a polícia continua militarizada e por que ela continuou atuando do mesmo jeito depois de terminar a ditadura. O Brasil, entre os países da América Latina, foi o único que teve a polícia militarizada. Isso tem um sentido na nossa história. A gente faz política com a polícia e vice-versa.
O testemunho, a memória, por assim dizer, tem uma via muito perigosa, que é a via do ressentimento, de ressentir a história, que é um pouco o 13 de maio, nesse sentido de: “Você é só isso, você não é nada além dessa história”. E quando a gente pensa na Lei 10.639, uma lei de 2003 que obriga todas as escolas brasileiras, todo o ensino público, a ensinar a história da África, a história afro-brasileira e indígena, e que até hoje não foi implementada?! Por quê? Porque olhar para a história desde outras perspectivas muda o nosso imaginário sobre nós mesmos/as. Se a gente for pensar, muda completamente a história do Brasil e de como a nossa atualidade foi se compondo, por exemplo, todas/os poderiam ter acesso à história da luta dos escravizados para não morrer de banzo – essa patologia, esse efeito da colonização, do trauma da escravidão, que tem a ver com a tentativa de apagamento, de afirmar que não havia uma história do lugar de onde viemos, de reafirmar que não havia nada, nem ao menos um lugar de onde viemos. Muda também a aceitação do mito da “democracia racial”, o mito de que todos somos iguais, de que há, no Brasil, uma harmonia entre as raças – porque as pessoas passam a não aceitar mais essa versão da história.
GK: Kwame, você estava falando sobre esse processo histórico que trouxe várias consequências para o presente, uma delas, a polícia militarizada. Kauã, você não deve ter estudado ainda a ditadura militar na escola, mas uma coisa que você conhece, na prática, é como a polícia atua.
KS: Sim. Um dia eu estava voltando da casa da minha tia, eu tinha ido deixar as crianças lá, porque elas iam jogar bola, e eu simplesmente fui parado, perguntaram se eu estava com o RG, eu falei que não e, por eu não estar com o RG, levei um tapa. Depois disso, o policial simplesmente entrou no carro e foi embora. Foi do nada. Aí eu fiquei pensando sobre isso…
GC: Um tapa na cara?
KS: Um tapa na cabeça… Eu meio que esqueci, não me liguei muito, mas, mesmo assim, não gostaria de passar novamente por nenhuma experiência assim. Eu era ainda mais novo, foi no ano passado. Foi uma única vez e espero que continue assim.
KY: É triste, Kauã, ouvir isso, porque você tinha doze anos, você tem treze agora, estamos em 2019. A gente fica pensando: até quando vamos ouvir histórias de pessoas tão novas, histórias tão parecidas, por conta da cor da pele? Por conta do racismo? Essa é uma herança do processo escravocrata, é a continuidade da mesma lógica. E é interessante você ter falado nisso, porque eu trabalhei com meninos em medida socioeducativa. Não sei se você sabe o que é isso. São jovens que cometeram alguma infração e cumprem medidas socioeducativas. Eles faziam seus testemunhos e contavam histórias muito parecidas com a sua, com alguns requintes de crueldade. Houve um menino de quem o policial ameaçou tirar um dente com alicate. Quem é historiador sabe de onde vem essa história. De tortura, da ditadura militar. Se a gente for olhar nosso processo de redemocratização, a anistia geral para todos – processo muito diferente do que aconteceu na Argentina, onde torturadores foram julgados e presos-, trouxe consequências para a nossa história, os torturadores continuam soltos, muitos no poder, e essa mesma lógica chega em você, chega em mim, chega em todos, de formas diferentes, lógico. É aí que entendemos que o mito de que todo mundo é igual, não é nem de perto verdade, porque nem todo mundo vai ter essa experiência que você teve, e menos ainda com doze anos!
Por que eu estou tocando nisso? Porque, no processo de as pessoas testemunharem a ditadura, houve um apagamento da atuação dos movimentos negros, que foram muito fortes e ameaçavam esse mito. Como os militares entendiam? “A galera do movimento negro vai vir com essas coisas dos Estados Unidos, vai trazer uma ideologia de racialização.” Soa parecido com alguma coisa que a gente conhece hoje, né? De que o racismo é coisa rara, não existe, de que essas histórias não são comuns, são apenas um detalhe da nossa história. E não. É só a ponta do iceberg, desse iceberg, desse mito que é o modo como nos socializamos, como nos entendemos. O efeito disso é que as reivindicações que existiam no movimento negro, a luta do movimento negro não entrou também como uma luta contra a ditadura, ficou à parte. E existe toda uma história do movimento negro que era também uma história de luta contra a ditadura. Então, esses testemunhos do movimento negro têm que vir à tona, porque de fato eles podem produzir efeitos na realidade. A forma como a gente conta a história influencia na forma como a gente vive, influencia na forma como a gente produz políticas públicas, produz nossa clínica, produz entendimento e perspectivas a respeito do nosso contexto.
E, só para fechar, para finalizar essa questão da importância do testemunho, de pensar que ele tem um efeito transformador na realidade, penso que, nessa disputa narrativa, nessa disputa da história, de como a história vai ser contada, algumas coisas podem se manter como estão, algumas ideias, algumas práticas, alguns mitos vão se perpetuar, se a gente não disputar as narrativas: “Espera aí! Não foi assim a ditadura, não foi só isso que aconteceu”.
Terapia-arte
GC: Grazi, você pode falar um pouco para a gente sobre a relação entre arte e clínica, ou arte e testemunho?
GK: É uma pergunta ampla para mim, eu teria que pensar mais para escolher um caminho para responder… mas uma coisa que sempre gosto de dizer sobre a arte da Clínica Pública, vou tentar elaborar aqui, é assim: para mim, nos meus processos como artista e como educadora, é muito importante que esses processos sejam suficientemente abertos ou radicalmente abertos, a ponto de engajar pessoas, e essas pessoas transformarem os processos. Então, ao propor algo, tenho que ter uma abertura para respostas, as mais inesperadas. Não é uma proposição predefinida para alguém participar de diferentes formas, mas uma proposição incompleta, em pleno processo, em plena construção. Tão inacabada, a ponto de ser recusada, ou repensada, ou transformada por quem nela se engajar.
E a Clínica Pública tem isso como premissa também. Por que ela chama Clínica Pública de Psicanálise? Ela não é uma clínica estatal (ela acontece em um espaço da prefeitura, mas não é subsidiada pela prefeitura). Ela é pública porque acontece no espaço público, é pública porque é gratuita, e é pública – aí entra isso que eu disse antes – porque é cotidianamente transformada por quem faz parte dela, aí incluídos seus usuários. Então, não são só os psicanalistas e artistas integrantes da Clínica determinando como a Clínica existe, como vão se dar os processos das conversas e tudo o mais, mas as próprias pessoas que usam colaboram nessa construção. E estou insistindo nisso, porque existem outros projetos de clínica psicanalítica gratuita na cidade, que nasceram depois do nosso, e funcionam de outra forma. Ali, o setting – um termo técnico na psicanálise, o arranjo, a forma como os atendimentos acontecem –, esse setting é predeterminado por um psicanalista ou por um grupo de psicanalistas. Eles vão dizer: “aqui funciona da seguinte forma”; e não pode ser de outra forma. Então, por exemplo, há casos em que a pessoa vai a um plantão, é atendida por alguém e, na outra vez que voltar, necessariamente, vai passar com outro analista e a cada vez com um analista diferente. Esse revezamento é um setting predefinido, como uma forma fechada. Aqui, a gente prioriza a continuidade, a formação de vínculo, e há diferentes formas abertas de esse trabalho acontecer, algumas delas instituídas pelos usuários.
Para dar um exemplo: desde que abrimos a Clínica, há três anos, a gente tinha o desejo da prática de grupo, mas, naquele momento, priorizamos as conversas individuais, porque queríamos, em um primeiro momento, escutar ex-moradores da Vila e pessoas de movimentos sociais. Éramos até mesmo cobrados: “vocês são um projeto político, então precisam fazer sessões em grupo, não individuais”. E a gente respondia que tinha vontade de fazer grupo, mas explicava que, naquele contexto, a escuta individual era fundamental; que essa metodologia era política também, se não mais política. Os indivíduos da Vila Itororó foram, por décadas, tratados como massa, sem nome, sem rosto, sem história, e era importante essa atenção “um pra um”. As pessoas de movimentos sociais muitas vezes adoecem por terem suas singularidades anuladas, em nome das questões coletivas, então também precisam de escuta individual. Só que aí, o que aconteceu? Um ano depois do início da Clínica, quando a gente já tinha um desejo ainda mais forte de começar um grupo, além das sessões que passaram a ser chamadas de “indivi-duais”, foram os usuários da Clínica que ensaiaram essa experiência, que nos ensinaram que era possível fazer. Como? Pessoas que vinham para seu atendimento indivi-dual, às vezes, permaneciam mais tempo no canteiro aberto, aqui no galpão, e prolongavam as conversas entre si. Havia também gente que vinha ao plantão aberto e não conseguia pegar uma senha para ser atendido pela primeira vez, então ficava no canteiro e acabava conversando com essas pessoas, em grupos pequenos. Havia, em comum, toda a piora emocional e econômica advinda de um ano do golpe. Essas pessoas, bem diferentes entre si, foram ensaiando um grupo terapêutico, e a gente só fez instituir mesmo, propondo que acontecesse todo sábado, às 11 horas. Há dois anos esse grupo acontece, mediado por dois a três psis. Agora, vão nascer outros. A partir de conflitos que surgiram na própria prática de grupo, nasceu um grupo só de mulheres, e por aí vai… As necessidades vão emergindo. É nesse sentido que eu falo: não é apenas a gente pensando e determinando “vai ter grupo, vai funcionar assim, assim”. Não. As coisas surgem pelo próprio trabalho, através de escuta verdadeira, de abertura a respostas inesperadas. Na própria relação analista-analisando, surgem arranjos diferentes, em uma construção a dois. Kauã, você, por exemplo, conversa com o Daniel aqui, nesta salinha?
KS: Não só. Aqui em cima, lá embaixo…
GK: Fazendo um café, caminhando… Isso vai sendo construído na própria relação…
GC: O que tem muito a ver com a arte.
GK: Ao menos com a maneira como eu imagino e desejo a arte, com essa abertura radical necessária para se fazer uma obra verdadeiramente pública. Então, vários processos artísticos que proponho têm isso. Acho que vocês conhecem um pouco do Projeto Mutirão, que realizo desde 2003. Essa obra mobiliza, durante conversas em contextos específicos, um arquivo de vídeos de lutas espaciais e políticas, na cidade e no campo, vídeos formados por um único plano cada, carentes de articulação… o Projeto Mutirão é isso, uma obra inacabada que assume a forma de um projeto, no sentido de algo que ainda não é, mas será o que a gente for fazer dele, coletivamente. E ele vai mudando com o tempo, sem perder acúmulo e tudo, mas se transforma. A Clínica também se transforma cotidianamente. Então, a principal relação que eu faço com a arte é essa. Existem outras. O fato de a Clínica acontecer em pleno canteiro aberto, que é um lugar onde a própria ideia de cultura está em construção ou em disputa… onde a gente entende o próprio morar como cultura, com gente cozinhando, comendo, dormindo e tomando banho, em meio a crianças brincando, cachorros correndo, pessoas ensaiando teatro, dança e circo, fazendo música… A pessoa que vem para cá é o tempo todo atravessada por essa vida do canteiro aberto, o que é muito diferente de um consultório privado ou de um hospital. A Clínica é inserida na cultura cotidiana e atravessada por ela, atravessada pela cidade. Ela se torna testemunho vivo das transformações e dos apagamentos em curso na cidade. Não é arte-terapia, mas terapia tornada arte. A gente está aqui nesta salinha mais preservada, mas a Clínica acontece por todo o galpão, que é uma extensão da rua, e mesmo pelo pátio da Vila, dentro de uma casa da Vila, na cozinha dos trabalhadores, na calçada… bastam duas pessoas, ou duas cadeirinhas para a coisa acontecer.
[1] Graziela Kunsch é artista socialmente engajada. Como responsável pela formação de público da Vila Itororó Canteiro Aberto, defendeu que o alegado “interesse público” da área não excluísse ex-moradores da Vila Itororó e realizou ações contra o apagamento dessas pessoas e da memória da Vila como lugar de moradia. Entre suas proposições no contexto – em diálogo com o psicanalista Daniel Guimarães, interessado em uma psicanálise popular, não elitista – está a Clínica Pública de Psicanálise, formada por psicanalistas e artistas que defendem a importância dos cuidados com a saúde psíquica, acessível a todas e todos, e sua relação com a cultura e a ampliação dos espaços públicos. A Clínica existe desde 2016 e realiza cerca de 390 sessões terapêuticas gratuitas por mês, “indivi-duais” e coletivas, entre outras ações, artísticas e clínicas. O grupo da Clínica hoje é formado por Ana Carolina Santos, Breno Zúnica, Camila Bassi, Camila Kfouri, Dafne Melo, Daniel Guimarães, Daniel Modós, Fernando Pena, Frederico Tell Ventura, George Amaral, Graziela Kunsch, Isabel Drummond, Manuela Ferreira, Maria Aguilera, Naira Morgado e Veridiana Dirienzo, e tem como supervisoras dos atendimentos Heidi Tabacof, Maria Silvia Bolguese, Marta Azzolini e Maurício Porto. Com um processo permanente para entrada de novos membros, a Clínica vem se configurando, também, como um espaço de formação. Mais informações em: fb.com/clinicapublicadepsicanalise.
[2] Kauã Santana nasceu e viveu na Vila Itororó até os seis anos de idade (2011) e, desde 2016, integra a Clínica Pública de Psicanálise, como analisando.
[3] Kwame Yonatan é psicólogo formado pela Universidade Estadual Paulista – campus de Assis, com mestrado na mesma instituição na área de psicologia e sociedade. Participou de pesquisas acadêmicas na área de atenção básica e atenção psicossocial. Possui três livros publicados. Em 2018, ganhou o prêmio “Jonathas Salathiel”, promovido pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, por seu artigo sobre psicologia e relações raciais. Tem experiência profissional em assistência social, atuando como psicólogo no Centro de Referência da Assistência Social e no Serviço de Medida Socioeducativa – regime aberto. É membro do coletivo Margens Clínicas, grupo de psicanalistas e psicólogos que atuam no enfrentamento da violência de Estado. Foi supervisor institucional, pelo Margens Clínicas, de um grupo transdisciplinar (com profissionais do Sus e do Suas) em um projeto do Centro de Estudos em Reparação Psíquica, financiado pelo Newton Fund. Atende na clínica há quase dez anos, trabalhando, prioritariamente, com a população vítima da violência de Estado. Atualmente, cursa o doutorado no Núcleo de Subjetividade do Programa de Pós-Graduação de Psicologia Clínica da PUC-SP.
“Considerando-se o estado de exceção permanente experienciado por grande parcela da população, o Margens Clínicas, coletivo formado por psicanalistas, psicólogas e afins, tem se dedicado a pensar as interfaces do sofrimento psíquico com as patologias do social, elaborando, a partir da escuta clínica, insumos para o enfrentamento à violência de Estado. Atualmente, temos como eixo central de trabalho o desenvolvimento de dispositivos clínicos comunitários que visam a recuperação de memórias e o fortalecimento de laços de cuidado e solidariedade, deslocando a noção de saúde mental de uma perspectiva individualizada e psicopatologizante, para uma perspectiva cultural, desde sua interface política, histórica, territorial e social.” In: https://www.margensclinicas.org, última consulta em 13 de junho de 2019.
[4] Lucas Sanches é historiador em formação e participante do coletivo História da Disputa: Disputa da História desde 2018.
História da Disputa: Disputa da História é um coletivo formado por historiadores, dedicado à pesquisa, produção e difusão de conteúdo historiográfico e orientado a partir da história dos vencidos, ou seja, a partir de documentos, testemunhos, memórias e dinâmicas produzidas por atores sociais geralmente ignorados pela história tradicional. Para isso, a metodologia inclui a ocupação dos espaços públicos com a finalidade de propor um debate com as pessoas participantes que abarque suas experiências afetivas e conhecimentos relacionados a esses espaços, buscando, através dessa partilha, interferir ativamente nos usos e construções dos mesmos, e disputar a narrativa hegemônica que os define.