Carta ao comitê de cultura de Kassel – será publicada em breve
A inadequação como um ato de responsabilidade: Graziela Kunsch entrevistada por Regina Johas

diagrama site-specific, Jorge Menna Barreto, 2007
Regina Johas: Fico muito feliz de termos esta conversa. É um privilégio poder dialogar com uma artista tão atenta e engajada. Você fez sua graduação em Artes Visuais na FAAP – Fundação Armando Álvares Penteado, onde a conheci. Era por volta do ano 2000. Lembro-me de uma situação em que você apresentou, na disciplina que eu administrava, um trabalho que tratava questões referentes a espaço e você inundou o andar todo com fumaça, dissolvendo assim, visualmente, as barreiras entre as salas de aula. Ali já estaria se anunciando o que viria ser, em sua trajetória artística, a ruptura de fronteiras entre arte e não-arte?
Graziela Kunsch: Também fico muito feliz com este reencontro. Você foi uma professora importante para mim. Sobre Fumaça (2000), te agradeço por recuperar esse trabalho, conhecido apenas de quem conviveu na FAAP naquela época.
Antes de responder, acho que vale eu descrever a ação: aluguei uma máquina de fumaça grande, dessas usadas em espetáculos de teatro, e a posicionei em algum canto do andar onde ficam as salas de aula do curso de Artes Visuais. São salas distribuídas ao longo de um corredor bem largo, com portas e paredes, mas sem teto individual, havendo um único teto comum, cujo pé direito é bem alto. Liguei a máquina, ela começou a produzir fumaça, e essa fumaça se expandiu por todo o espaço, até onde encontrava limites físicos, e permaneceu por um bom tempo no ar. Quem adentrava esse corredor encontrava um lugar todo tomado por fumaça e precisava caminhar em meio a essa neblina. Quem já estava em aula, aos poucos vivenciou a sala de aula ser tomada por fumaça.
Acho que esse trabalho pode sim ser pensado como um prenúncio da minha prática como artista. Talvez menos na questão das fronteiras entre arte e não-arte e mais na recusa de caber em categorias artísticas pré-existentes e fechadas. Porque coisas que faço que podem não ser percebidas como arte por algumas pessoas, para mim ainda são arte.
Para explicar o que estou dizendo, vou lembrar o que se passou naquela noite. Ainda em meio à nossa sala tomada por fumaça, você estava muito mexida pelo meu trabalho. Emocionada mesmo. E fez comentários bonitos e precisos, como sempre, no âmbito das práticas escultóricas/tridimensionais. Mas, depois de um tempo, você se incomodou ao saber que eu tinha ficado feliz que uma outra turma, ao lado da nossa, estava dançando no meio da fumaça. Estavam na aula de desenho de figura humana do Mourilo (professor Lázaro Eliseu Moura), que sempre colocava música durante suas aulas, que eram de observação de modelos vivos.
Você me disse que não era possível eu ser, ao mesmo tempo, conceitual (e aqui você trouxe como referência a obra de Joseph Kosuth) e lúdica, brincalhona (como eram algumas experiências de Roman Signer, artista suíço que você nos apresentou). Eu tentei te perguntar por que não, uma vez que, para mim, era possível sim. A forma como o trabalho aconteceu demonstrava isso. As pessoas dançarem estava fora do meu controle e eu gostei que essa dança pudesse ser compreendida como parte da obra. Não me interessava a pureza do meu gesto conceitual, que foi responder às questões relativas ao espaço provocadas pela disciplina. Essa foi a minha intenção original, é claro, e sem dúvida eu me sentia mais próxima de Kosuth que de Signer. Mas quando a gente coloca coisas no mundo essas coisas estão sujeitas a diferentes reações e usos. Há vinte anos eu não tinha a clareza que tenho hoje, mas, hoje, eu consigo dizer que a dança – ou a sala de aula transformada em festa – foi uma ação do público tornado propositor. Hélio Oiticica falava do espectador tornado participador de suas proposições; eu me interesso pelo público como sujeito propositor, com a capacidade de transformar uma proposição inicial minha.
Diante do que expus, pergunto como categorizar esse trabalho de fumaça. Foi pensado e apresentado como escultura, pelo contexto da disciplina. Mas, na prática, assim como a fumaça borrou as fronteiras entre as salas de aula, a forma como a obra foi usada pelo público me impede de encerrá-la em uma categoria da arte. É claro que o vocabulário da arte contemporânea é bastante amplo – podemos recorrer a palavras como evento, acontecimento, situação, ou mesmo uso, entre outras. Mas aí a gente perde a ideia de escultura, que para mim ainda é estruturante dessa proposição.
Se houve algum prenúncio da minha trajetória ali, foi na dimensão de não caber. Não caber nas coisas como elas são. Ou não atuar como esperam que eu atue.
Além disso, me interessa a arte inserida na vida cotidiana. O mundo da arte se relacionando com outros tantos mundos, e não encerrado em si mesmo. O título original da obra, que depois virou Fumaça, era A expansão. Citando o bilhete que o coletivo 3NÓS3 deixou em galerias de arte de São Paulo em 1979, na ação X-Galeria, “o que está dentro fica, o que está fora se expande”.
RJ: Em seu projeto “O público de fora” (2014) feito para o Edital Mediação em Arte, do Centro Cultural São Paulo, você propõe entre outras ações “a instalação da frase TEM UMA CATRACA NO MEIO DO CAMINHO em dois acessos do CCSP; na entrada maior, diante do jardim interno, e na rampa de acesso de quem chega pela estação Vergueiro. Em uma entrada a frase foi instalada no chão, de modo que as pessoas passassem por cima dela ao entrar, e na outra a frase será instalada em uma faixa no alto, presa em dois postes de luz, de modo que as pessoas passem por baixo” [1].
Essa ação aconteceu também como parte do projeto “Ônibus Tarifa Zero”, na 31ª Bienal de São Paulo, realizada no mesmo ano. Nos dois casos há a preocupação com aquele público que não tem acesso às instituições de arte por não terem condições de pagar o transporte coletivo até as mesmas.
Nas instâncias da arte, a questão sobre o campo de forças que define a instituição, quem são os seus agentes e qual corpo de regras que aí se manifesta passou a ser alvo do conjunto de práticas artísticas a que se deu o nome de crítica institucional. Apresentando desafios radicais ao sistema de museus e galerias, os artistas da crítica institucional questionam o confinamento cultural da arte e do artista via suas instituições, ainda que reconheçam suas relações simbióticas com as mesmas. Sua prática artística se relaciona com a crítica institucional? Ou com quais outras orientações ou afiliações você contextualiza sua produção no campo da arte contemporânea?
GK: Alguns projetos meus podem sim ser pensados como crítica institucional. Mas eu gostaria de complexificar um pouco, porque muita gente entende crítica institucional como um ataque à instituição e nem sempre é isso ou não apenas isso. É uma forma de pensar com especificidade, de reconhecer que os espaços (sejam da arte ou outros) não são neutros e carregam histórias. Significa escutar determinado contexto e responder a ele. Um ato de responsabilidade. Neste sentido, eu prefiro pensar na noção de site-specificity, que inclui a crítica institucional, como uma forma minha de trabalhar.
Em sua dissertação de mestrado, intitulada Lugares moles (2007), o meu amigo Jorge Menna Barreto buscava inicialmente traduzir o termo site-specific para uma palavra em português. Esse conceito é usado de maneira muito equivocada no Brasil e em diversos lugares, sendo erroneamente usado como um substantivo (“lugar específico”), em vez de um adjetivo que qualifica determinada obra (“obra site-specific“, ou “obra orientada por um lugar”, sendo que “lugar” tampouco é a palavra ideal, pois site pode ser lugar, contexto, situação). E digo obra orientada “por” um site e não “para” porque há uma diferença aí. Realizar uma ação orientada “por” um contexto explicita que há escuta desse contexto pelo artista antes de chegar a agir. Fazer uma obra “para” um contexto coloca a obra ou mesmo o artista como mais importantes nesse processo. Não por acaso, muitos artistas reproduzem obras idênticas em contextos diferentes, adequando apenas algumas medidas ou alguns ângulos, e chamam isso de obra site-specific, porque a obra de algum modo se ajusta a um canto, ou uma janela, ou o que for do espaço expositivo. Uma instalação no espaço expositivo pode sim ser site-specific, é claro (e eu mesma instalei a frase citada por você em três locais diferentes, alterando apenas medidas – além do Centro Cultural São Paulo e da Bienal, também no Palácio das Artes, em Belo Horizonte). Mas uma instalação, por mais preparada que seja para determinado espaço físico e não outro, pode também não ser site-specific. Da mesma maneira, uma série fotográfica pendurada na parede de um cubo branco pode ser site-specific. Não é a adequação de determinada obra ao seu lugar de realização que qualifica uma obra como site-specific, mas a sua resposta crítica a esse lugar; a sua inadequação.
Para explicar melhor isso, retomo o processo de pesquisa do Jorge: durante o seu mestrado, ele chegou a inventar a palavra “expessitude” como tradução de site-specific, a partir das ideias de exterioridade (tudo que é exterior à obra importa), situ/situar/situado/situação (o apego à determinada localização) e espesso (do dicionário: de consistência densa; encorpado, grosso). Expessitude seria, assim, o estado, a qualidade ou caráter do que é situado, denso e vinculado ao seu contexto de produção. Na contramão da expessitude estaria o achatamento crítico, a ausência de camadas.
Conforme sua pesquisa avançou, ele decidiu abandonar esse termo, que sequer aparece em seu texto final. Porque o que mais incomodava o Jorge era o fato de site-specific vir sendo usado como uma categoria da arte, ao lado de outras, como escultura, pintura etc. (e não, como já falado, como um adjetivo que qualifica uma escultura, pintura etc.). Ele achou melhor traduzir site-specific como um método. Uma forma de fazer e de pensar. E desenhou um diagrama para descrever esse método.
Nesse diagrama ele identifica e explica cinco momentos do método site-specific: escolha do site; escuta e mapeamento; identificação de um problema; construção da fala (expressão que ele usou para falar da realização material da obra); fissuras (termo que empregou para falar da documentação de todo o processo e da circulação dessa documentação).
A grande sacada do Jorge ao descrever o método está nesse terceiro item: identificação de um problema. Porque não se trata de qualquer escuta, mas de uma escuta crítica. Para explicar esse gesto de identificar um problema de maneira didática, eu poderia recorrer a obras realizadas no final dos anos 1960 ou nos anos 1970 nos Estados Unidos, quando nasce essa noção de site-specificity. Mas escolho contar sobre dois trabalhos do próprio Jorge. O primeiro, seu trabalho final de graduação, Enconfrontos (1997), na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Ele visitou a galeria onde eram expostos os trabalhos finais de graduação e mapeou todo esse espaço, usando seu próprio corpo como medida. Ali ele notou, para dar apenas um exemplo, a altura da janela, inacessível para quem circulasse pelo ambiente. Jorge então desenvolveu esculturas de figuras humanas para habitar esse espaço, todas hiperatrofiadas. Uma delas era bem alta, de modo que conseguia acessar essa janela e olhar para fora desse espaço.
O outro exemplo que trago ele realizou em 2014, a partir de um convite da dupla Bik Van der Pol, que participava da 31ª Bienal de São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Circulando pelo parque, Jorge reparou nos muitos carrinhos e quiosques de venda de alimentos ultraprocessados como salgadinhos, salgados, biscoitos e refrigerantes, que ele chamou de comida para anestesia, recuperando um termo usado por Cildo Meireles. Jorge depois mapeou, com a ajuda de um biólogo, diversas espécies de PANCs – plantas alimentícias não convencionais, pelos gramados do parque. Então colheu essas PANCs, fez com elas Sucos específicos e colocou esses sucos para serem vendidos no restaurante do Bienal, em meio a bebidas como Coca-cola e Suco del Valle. Contra a anestesia, consciência contextual.
Eu trouxe essa longa explanação sobre a forma de pensar e fazer site-specific porque você havia me perguntado onde me localizo na arte contemporânea. E não foi por acaso que escolhi falar do Jorge e não do Richard Serra ou do Hans Haacke, ou mesmo do Cildo ou do Artur Barrio, que, naquela mesma época, trabalharam com consciência contextual, ainda que as formas de nomear aqui no Brasil tenham sido outras (Barrio e Frederico Morais usaram o termo “situação”; Cildo usou “escuta do espaço”, “realidade”, “circuito/anestesia”, “inserção/consciência”). Escolhi falar do Jorge porque, além de sermos amigos e partilharmos alguns projetos em comum, a figura alta que olha através da janela que lhe era negada e os sucos produzidos no parque e vendidos no restaurante da Bienal não se limitam a denunciar os problemas identificados. São obras propositivas de um outro mundo possível.
Voltando para o meu trabalho, os dois exemplos que você traz – O público de fora e Ônibus Tarifa Zero – não podem ser reduzidos a uma crítica à instituição. Parto da crítica – ou da constatação de um problema – para fazer uma proposição. Uma proposição para a cidade, a criação de uma política pública[2].
No caso do projeto na Bienal, diante da recusa da prefeitura em colaborar na criação de uma linha circular Tarifa Zero, terminei meu trabalho com uma performance, que foi o deslocamento do dinheiro alocado ao meu projeto artístico para lutas sociais, no extremo sul de São Paulo e em Belo Horizonte. Esse deslocamento se deu com a realização de um workshop de trocas entre movimentos que lutam pela Tarifa Zero no último final de semana da Bienal e com a concordância de todas e todos convidados de doar seus cachês aos seus movimentos de origem. Na palestra que dei sobre o projeto em Belo Horizonte, em uma itinerância da exposição, o meu cachê também foi doado. Essa ação foi anunciada como uma performance e teve a sala lotada de integrantes do Tarifa Zero BH, que terminou vibrando com a doação. Ainda que fosse um valor modesto, 600 reais menos impostos, isso tornou possível a realização de uma Busona (nome que o movimento dá a uma linha circular popular de ônibus Tarifa Zero) durante um processo de luta contra o aumento. No caso da Luta do Transporte no Extremo Sul, em São Paulo, com os recursos que vieram da Bienal no final de 2014 mais outras iniciativas, como a realização de um bingo, o movimento realizou três linhas populares, experimentais e efêmeras de ônibus Tarifa Zero, em maio de 2015, em três bairros diferentes, tendo conquistado a implementação de uma das linhas exigidas pela prefeitura.
RJ: Andrea Fraser, que já pertence à segunda geração da crítica institucional, ao referir-se à instituição de arte afirma que “a instituição está dentro de nós e não podemos nos afastar de nós mesmos”, concluindo que “não se trata de ser contra a instituição: somos a instituição”[3]. Você vê sua atuação como artista alinhada a esta reflexão de Fraser?
GK: Sim e não. Sim, no sentido de que a minha formação em arte me faz compreender os modos de funcionamento da instituição de arte e essa compreensão gera algum grau de pertencimento a essa instituição. Sim também no sentido de achar que é necessário e possível darmos um bom uso às instituições. Acredito muito no trabalho institucional realizado pela equipe que integrei no projeto Vila Itororó Canteiro Aberto, em São Paulo, entre 2015 e 2017 (Benjamin Seroussi como curador, Fabio Zuker como curador adjunto, eu como educadora responsável pela formação de público – que depois passaria a denominar como autoformação de público –, Helena Ramos como produtora, entre outros); como considero relevante o trabalho institucional realizado por Clarissa Diniz e Janaina Melo no MAR – Museu de Arte do Rio (a primeira como curadora e a segunda como coordenadora da Escola do Olhar), entre 2013 e 2018; como tenho esperança na recém-empossada direção artística do MAM-RJ, a dupla formada por Keyna Eleison e Pablo Lafuente, acompanhados de Gleyce Kelly Heitor como responsável pelo setor de Educação e Participação. Pode parecer problemático eu citar apenas exemplos no eixo Rio-São Paulo, mas não faço isso por acaso: quero dizer que mesmo onde as instituições são muito estruturadas é possível reinventá-las, subverter sua vocação original.
Tanto a Vila Itororó tornada centro cultural como o MAR nascem a partir de violências e despejos diversos e como elementos gentrificadores das regiões onde estão localizados. Mas se gentrificação significa a substituição de populações, ou o enobrecimento/a elitização de determinada área (gentrification, conceito inventado na língua inglesa, deriva de gentry, pequena nobreza), a manutenção de populações que algumas pessoas queriam ver longe nesses espaços evita ou adia, em alguma medida, a gentrificação. O projeto Vila Itororó Canteiro Aberto acolheu a narrativa dos ex-moradores da Vila (e não a narrativa de arquitetos e gestores que os expulsaram dali) como história oficial e teve um grupo de ex-moradores presentes como interlocutores e propositores de ações. O MAR envolveu moradores da zona portuária de diferentes maneiras, além de ter realizado uma exposição histórica na qual indígenas decidiram como (não) gostariam de estar no museu (Dja Guata Porã, 2017-2018), para citar apenas um exemplo.
Não me sinto alinhada à reflexão de Fraser no sentido de que me sinto mais perto de tudo aquilo que escapa (ou não cabe, como dito anteriormente, ou é excluído, invisibilizado, ridicularizado, ameaçado), do que daquilo que está dentro, assimilado, aceito, incluído, normatizado. As instituições têm seu modo de pensar (ver How institutions think, de Mary Douglas, 1986) e o nosso papel nelas pode ser de crítica, desconstrução e/ou reinvenção desse modo de pensar. Nós não precisamos nos identificar com uma instituição estagnada, vestir cegamente a sua camisa. Somos sujeitos que podem colocar coisas em movimento.
RJ: O Projeto Mutirão, desenvolvido inicialmente durante o seu mestrado, é uma prática documentária e ação contínua que focaliza lutas políticas, não almejando um fim, nem originar um produto. É composto de uma série de vídeos em plano único – chamados por você de “excertos” – que capturam movimentos sociais, especialmente movimentos de moradia e o Movimento Passe Livre, mutirões de construção de casas, mutirões de limpeza, cozinhas comunitárias e também pequenas atitudes políticas do dia-a-dia como entrar no ônibus pela porta traseira. Esses registros têm início já em 2003, quando você começa a documentar uma série de lutas políticas.
O Projeto Mutirão gera um arquivo de vídeos de ações coletivas de transformação do espaço urbano e rural, arquivo esse que você leva para públicos diversos como museu de arte, escola para crianças, assentamento rural, ocupação de sem-teto, festival de cinema, universidade, aldeia indígena, etc. A cada vez que o Projeto Mutirão é apresentado, os excertos são escolhidos de acordo com o contexto, e as conversas aí são registradas e excertos das conversas são incorporados ao arquivo e exibidos em conversas futuras.
Segundo uma fala sua, o “Projeto Mutirão se contextualiza em práticas de arte contemporânea que eu chamo de práticas dialógicas. Resumidamente, trata-se de projetos artísticos onde se pode identificar uma forte inclinação educativa. Não uma educação disciplinar, mas uma educação baseada no diálogo, na troca de experiências, no compartilhamento de estudos, no aprendizado mútuo, enfim”[4].
Essas “práticas dialógicas” podem ser vistas como dispositivos de ampliação de subjetividades?
GK: Se a gente estivesse conversando pessoalmente, eu tentaria entender melhor o que você está chamando de “ampliação de subjetividades”. Como se trata de uma entrevista escrita, com as perguntas inicialmente formuladas por você, porque esta foi a forma possível para este nosso encontro acontecer, uma vez que eu me encontro quase inteiramente dedicada ao exercício da maternidade, vou arriscar duas respostas.
A primeira, seria pensar se o Projeto Mutirão tem o potencial de ampliar a nossa visão de mundo. Acho que sim. Quando vemos e debatemos ações de transformação espacial-social, que ao menos colocam no horizonte coisas como Tarifa Zero, ciclovias, reforma de prédios abandonados em moradias dignas, agroflorestas etc., estamos criando um novo imaginário.
Se essas coisas todas ainda são raras ou mesmo inexistentes até hoje, imagine em 2004/2005, quando comecei a realizar sessões do projeto. É diferente debater e imaginar Tarifa Zero no transporte público antes de 2013 e depois de 2013. Para dar mais um exemplo, tenho um excerto gravado por mim em 2008 que documenta ciclistas pintando ciclofaixas em uma via até então usada apenas por automóveis. Hoje essa rua tem uma ciclovia oficial, pintada por trabalhadores da prefeitura. É uma via que faz uma ligação bairro-terminal de ônibus/estação de metrô. Não fosse a imaginação política e – importante – a ação direta desses ciclistas, usando as próprias mãos, essa ciclovia jamais teria se tornado visível no horizonte e hoje não existiria como política pública. Ao colaborar no registro, na circulação e no debate dessas cenas, o Projeto Mutirão tem o potencial de inspirar outras pessoas a exercerem o direito à cidade, entendido não apenas como acesso ao que a cidade já oferece, mas, antes, como o direito – e a responsabilidade – de a gente refazer a cidade.
A segunda resposta que me ocorre dar a você, sobre ampliação de subjetividades, diz respeito ao sentido da forma dialógica do trabalho. Para existir diálogo é fundamental que as pessoas envolvidas se reconheçam como sujeitos. Em outras palavras, cada pessoa precisa ser reconhecida em sua subjetividade, ou no seu lugar de fala… Se quero dialogar com uma pessoa muito diferente de mim, preciso reconhecê-la como sujeito e escutá-la. Preciso escutar o que não entendo e até mesmo o que me incomoda e ela também precisa me reconhecer como sujeito e me escutar verdadeiramente, do contrário, será impossível dialogarmos. Não estou falando que temos que conversar com quem, por motivos diversos, não queremos conversar. Também não estou falando sobre aceitarmos o que nos fere ou nos anula. Há coisas que, para mim, são inaceitáveis. Preciso ter esses limites claros, inicialmente para mim e depois para o outro. Também não estou falando sobre chegarmos a um consenso, nem sobre nos tornarmos amigos. Estou falando sobre dialogar. Um diálogo pode sustentar o conflito.
Será a ampliação de subjetividades o exercício de se colocar no lugar do outro?
Ou a gente se permitir viver outras vidas? Ampliar a nossa própria existência, especialmente quando essa existência é negada? Eu diria que esse é sim um dos temas do Projeto Mutirão: a superação da nossa vida em sociedade atual, por outras formas de vida coletiva, que invente e acolha subjetividades diversas.
RJ: No mesmo texto sobre o projeto você diz que se tornou uma personagem do trabalho e que “ora é a Graziela artista quem fala, ora é a ativista, ora a professora, a pesquisadora. Outro aspecto importante é que, apesar de a maioria dos excertos já coletados terem sido capturados por mim eu venho coletando excertos feitos por outras pessoas e espero que em algum momento eu me torne completamente dispensável, que o trabalho seja apropriado, que se torne uma prática coletiva.”[5] Nesse sentido, o Projeto Mutirão é um dispositivo de educação que busca um alargamento do público de arte? Ou seria uma forma de dissolução da arte no social? Uma desaparição da figura do artista?
GK: Algumas pessoas que participaram de sessões do Projeto Mutirão compreenderam tão bem a obra e se sentiram tão convocadas, inspiradas, que passaram a mediar sessões do projeto por conta própria, fosse usando o arquivo construído por mim, fosse mobilizando outros registros, por exemplo feitos por elas mesmas em suas cidades. Essas pessoas gravaram as sessões mediadas por elas e me enviaram excertos dessas situações, para eu incorporar no arquivo. Quem tem contato com esse arquivo em uma exposição – e aproveito para contar que, após muitos anos de resistência, porque sempre escolhi enfatizar o aspecto presencial e cênico deste trabalho, irei pouco a pouco subir esse arquivo na página projetomutirao.naocaber.org – verá o que chamo de “excertos reflexivos” em meio aos excertos das ações de transformação espacial-social. Esses excertos reflexivos são momentos das conversas do Projeto Mutirão, em diferentes contextos. Aí fica muito evidente isso que digo de ter me tornado uma personagem do trabalho, pois em muitos desses excertos quem está na frente da câmera sou eu. Para explicar isso de outra forma, imagine um menu de DVD – que é a forma como parte desse arquivo circula atualmente – da seguinte forma: um fundo branco com vários pequenos retângulos organizados em uma grade. Cada um desses retângulos é um botão para dar play em um vídeo do projeto e tem um still (uma imagem) do vídeo em questão. Se olhamos o conjunto desse menu, é possível ver várias “Grazielinhas” em meio a imagens de outros indivíduos que participaram das conversas e em meio a imagens de lutas políticas. Conforme outra pessoa começa a assumir o papel que tenho no projeto, poderemos ver seu rosto com mais evidência também. Se muitas pessoas começarem a assumir esse papel, esses rostos deixarão de ficar tão evidentes, diluindo-se na coletividade.
Outra forma de responder é trazer uma sessão do Projeto Mutirão que realizei em Bogotá, Colômbia, no bairro Belén, em 2012. Eu estava na cidade em função de um encontro internacional de curadores, organizado pelo Instituto Goethe. Um casal de amigos colombianos disse que eu precisava conhecer esse bairro, bastante central, que havia dez anos vinha resistindo a um processo de gentrificação e “fazer algo lá”. Eu ficaria bem poucos dias na cidade, mas fui conhecer as pessoas e aprender sobre o contexto de Belén em um sábado e no domingo realizamos uma longa sessão do Projeto Mutirão. Comecei mostrando excertos da luta de resistência dos ex-moradores da Vila Itororó, pois se tratava de uma história muito parecida: alguém determina que certas construções são patrimônio de toda a cidade como forma de expulsar pessoas pobres de suas casas e substituí-las por pessoas mais abastadas, na forma de usuários de bares, restaurantes (projeto para as casas de Belén) ou centros culturais (projeto para a Vila Itororó). No início da sessão eu falei bastante, porque estavam todos bem interessados em entender o contexto da Vila, as especificidades das leis em São Paulo, as formas de luta… aos poucos, as pessoas presentes começaram a se inspirar e a imaginar novas ações. Aquela era a primeira vez que tinham conseguido reunir em uma mesma sala pessoas atuantes em diferentes frentes da resistência. A conversa entre o grupo estava mais que aquecida, já não estávamos vendo nenhum vídeo, e a principal liderança uma hora se lembrou da minha presença e me perguntou: “O que você está achando de tudo, Graziela?”. Eu estava achando tudo lindo; se eu tivesse saído da sala ninguém teria notado. O meu papel estava cumprido. Essas pessoas já estavam em movimento havia anos, mas o nosso encontro tornou possível que a luta ganhasse um novo fôlego; um pouco de ânimo e imaginação para continuar.
RJ: A quinta edição da Revista Urbânia foi lançada na 31ª Bienal de São Paulo (2014) e tem como foco de discussão práticas de educação democrática. Nesse sentido, para além do público do mundo da arte, está endereçada aos indivíduos e colaboradores da edição, escolas indígenas, escolas de campo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), educadores e educadoras, grêmios estudantis, mulheres, pessoas racializadas, entre outros grupos específicos, e propõe a educação, empoderamento e aprendizado por meio da partilha comum, do fazer junto.
O artista alemão Joseph Beuys endereçava continuamente o aspecto educativo, tendo até mesmo criado a FIU – Universidade Livre Internacional (1974) – tida como um local vivo onde seria possível discutir os vários problemas reais da vida e na qual o potencial de criação de cada um poderia ser exercido na construção do que ele chamava de “escultura social”. Essas seriam referências para Graziela Kunsch? Quais referências artístico-conceituais e de outras práticas de educação democrática você tem como influências em sua trajetória?
GK: Na época da faculdade me encantei por Beuys, mas hoje ele é apenas uma referência distante, pois nunca estudei de verdade sobre suas aulas, esse projeto de universidade, a noção de escultura social. Tenho sempre muita dificuldade em falar sobre referências, pois considero isso muito contextual, dependendo das pesquisas e experimentações em andamento. Hoje, que estou vivendo o mundo dos bebês, ou da chamada primeiríssima infância (0 a 3 anos), a minha principal referência é Emmi Pikler, médica húngara que desenvolveu uma pedagogia maravilhosa em um orfanato de Budapeste[6]. Quem sabe ainda falo um pouco dela, conforme a conversa avançar. É uma pena que eu ainda não conhecesse a abordagem Pikler quando editei o quinto número da Urbânia.
De todo modo, como referência permanente, é importante eu citar Paulo Freire. Descobri recentemente que a minha mãe, que tem 73 anos e segue trabalhando como professora, na USP – Universidade de São Paulo, leu Pedagogia do oprimido quando estava grávida de mim. Tenho comigo o exemplar usado e grifado por ela nessa época, e para mim isso é muito significativo, pois me reconheço como professora desde muito nova. Eu comecei a dar aulas aos 16 anos e nunca mais parei. (Hoje tenho 41). Como todo educador já tive e ainda tenho meus maus momentos, de falar mais que escutar. Aprender a ouvir e falar a partir do que o outro traz, no lugar de depositar conteúdos sobre esse outro, é um exercício constante.
RJ: Entre setembro de 2018 e março de 2019 você participou com o projeto Lugar de escuta da exposição “ARTE DEMOCRACIA UTOPIA – Quem não luta tá morto”, que teve curadoria de Moacir dos Anjos, no MAR – Museu de Arte do Rio.
O Museu de Arte do Rio propôs na ocasião a criação de um fórum – o #MARaberto – que foi “pensado como lugar de encontro, discussão e ocupação… (para) acionar vínculos entre arte, cultura, sociedade e política, gerando experimentos, reuniões, ensaios, oficinas, performances, saraus”. Naquele contexto foi também lançada uma “convocatória para que coletivos, movimentos sociais ou iniciativas de outros formatos ocup(assem) o fórum com as atividades que já realizam em outros lugares”[7]. O projeto Lugar de escuta aconteceu nesse contexto, junto com ações realizadas por grupos comunitários e associações da sociedade civil que trabalham com atuação política e social.
Como foi o desenrolar desse projeto? Você concorda com o pensamento de Simon Sheikh, quando ele afirma que “é nossa firme convicção de que o campo cultural é uma ferramenta útil para a criação de plataformas políticas e novas formações políticas, em vez de uma plataforma primária em si”?
GK: Esse projeto, realizado com Daniel Guimarães, meu companheiro e psicanalista, com quem fundei a Clínica Pública de Psicanálise em 2016, no canteiro aberto da Vila Itororó, na realidade não fez parte dessa programação #MARaberto. Essa programação inclusive não chegou a ser realizada como havia sido imaginada, por motivos que desconheço, caso alguém queira pesquisar a respeito. É importante dizer que o nosso projeto aconteceu dentro do espaço expositivo, por convite do curador Moacir dos Anjos, porque em muitos dos meus trabalhos eu proponho que o espaço expositivo não seja um espaço de contemplação, ou não apenas de contemplação, mas de uso.
A obra consistiu na instalação de uma roda de aproximadamente 20 cadeiras no espaço expositivo, junto à inscrição “Lugar de escuta – escuta do lugar”. A ficha técnica da obra dizia assim: “Para que diferentes lugares de fala sejam respeitados, é fundamental que exista escuta. É na escuta que a fala é validada, para a própria pessoa enunciadora. Uma comunidade pode se transformar ao, por meio de um processo de fala e de escuta, nomear e elaborar elementos até então silenciados sobre sua história, sua forma de existir e se relacionar. Nesse processo, que é ao mesmo tempo coletivo e individual, novos conteúdos sobre a própria comunidade podem emergir – ou ser imaginados”.
Esta roda de cadeiras permaneceu vazia em alguns momentos, aberta a diferentes interpretações, próxima a obras como as Almofadas pedagógicas, de Traplev, e à inscrição vazada na parede “O que não tem espaço está em todo lugar”, por Jota Mombaça.
Em outros momentos, a roda foi usada por mediadoras e mediadores da Escola do Olhar junto a grupos escolares, da maneira que fez sentido nas práticas de escuta e mediação já em andamento no museu, e pelo coletivo Escutadores, formado a partir do workshop “Experimentação de uma clínica pública no Rio de Janeiro”, mediado por mim e pelo Daniel, em setembro de 2018, com integrantes de projetos históricos e atuais de clínicas sociais e projetos que lidam com a memória (ou o não esquecimento) de remoções: Casa da Árvore, CEII – Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia, Clínica Pública de Psicanálise, Clínica Social de Psicanálise, Equipe Clínico Política RJ, Margens Clínicas, Museu das Remoções, NAPAVE – Núcleo de Apoio Psicossocial a Afetados pela Violência de Estado, Psicanálise no Jacarezinho, Psicodrama Público, Rede de Saúde das Favelas e Rolé dos Favelados.
Além de compartilhar experiências e aprendizados, as e os participantes do workshop tiveram a responsabilidade de definir, democraticamente, o uso de uma pequena verba de produção de obra, para ações ao longo dos meses de duração da exposição. As ações poderiam acontecer no museu, no entorno do museu e/ou em um contexto específico do Rio de Janeiro, configurando, na prática, uma nova experiência de clínica pública na cidade, mesmo que temporária.
O grupo Escutadores, composto por psicanalistas, psicólogos, uma psiquiatra e artistas que são também educadoras, escolheu usar os recursos para remunerar suas horas de trabalho (ainda que com um valor bem inferior ao praticado em consultórios) e realizou sessões terapêuticas grupais no lugar de escuta todas as terças-feiras, dia de visitação gratuita ao museu, até o final de março de 2019, data de encerramento da exposição. As sessões eram divulgadas online e no próprio museu e havia gente que ia até o MAR apenas para participar e gente que estava visitando a exposição e se juntava ao grupo espontaneamente, na hora. Como a exposição foi marcada pelas últimas eleições presidenciais, as rodas acabaram se tornando lugar de refúgio para pessoas que estavam sentindo muito medo e ansiedade de tudo por vir com o novo governo.
Além da roda instalamos também duplas de cadeiras uma de frente para a outra junto a janelas do museu, com a pequena inscrição “Escuta mútua”. Essas cadeiras foram usadas espontaneamente por visitantes e também acolheram sessões terapêuticas, que chamamos de indivi-duais, novamente com integrantes dos Escutadores.
Após o encerramento da exposição, as sessões grupais seguiram acontecendo, para além do museu, em contextos específicos do Rio como Ocupação Chiquinha Gonzaga (atrás da Central do Brasil) e Lanchonete<>Lanchonete (Gamboa/Pequena África). Todas as cadeiras foram doadas para a Escola Por Vir, gerida pela artista Thelma Vilas Boas na Lanchonete<>Lanchonete.
As experiências das rodas de escuta dentro e fora do MAR, a Clínica Pública de Psicanálise e a Escola Por Vir, além dos já comentados Projeto Mutirão e Ônibus Tarifa Zero, podem ser exemplares para eu responder a segunda parte da sua questão: se o campo cultural pode ser uma ferramenta útil para a criação de novas formações políticas. Sim, penso como o Simon, com quem já pude trabalhar, em mais de uma ocasião. Para nós, a arte pode estar ancorada em seu contexto de produção e, ao mesmo tempo, apresentar horizontes possíveis e impossíveis de superação ou transformação desse mesmo contexto. Não na forma de representação estética (arte de temática política) mas, se fazendo, na prática, na vida cotidiana, na relação de artistas com pessoas de outros contextos (fazer arte politicamente). Mesmo que essa relação ganhe forma dentro de uma exposição ou de um centro cultural, ela pode ensaiar – e instituir –, no presente, outros imaginários políticos[8].
Grupos terapêuticos e uma Clínica Pública de Psicanálise instalados dentro de um museu com ao menos um dia de visitação gratuita e de um centro cultural da prefeitura, respectivamente, nos ensinam que a psicanálise pode ser inserida na cultura, no lugar de se limitar a uma elite, e mostra que o dinheiro não é estruturante nas relações analista-analisando. A experiência da Clínica Pública inspirou uma série de outras clínicas em espaços públicos em diferentes cidades brasileiras e um dia pode se tornar uma política pública. Mesmo todo atendimento sendo gratuito, a ideia não é que analistas não sejam remunerados pelo seu trabalho, mas que sejam remunerados de maneira indireta, por meio de impostos, e não por analisandos, no ato do uso. Não por acaso, é a mesma proposta da Tarifa Zero no transporte público: o sistema de transporte tem custos diversos, mas no lugar de parte significativa desses custos ser suprida por quem usa o transporte coletivo, na hora de passar pela catraca, os recursos viriam dos impostos. E os impostos precisam ser progressivos, de modo que ricos sejam mais taxados e contribuam mais com a vida coletiva. Ah, eu digo não por acaso, porque eu e Daniel partimos da nossa vivência passada junto ao Movimento Passe Livre para conceber a Clínica Pública. Uma clínica tarifa zero, inicialmente subsidiada por recursos de produção que eu tinha para desenvolver um projeto artístico, a convite de um curador. Aqui estou me atendo mais à questão do pagamento, mas vale dizer que a Clínica Pública ensaiou outras formações políticas de diferentes maneiras. Para dar apenas mais um exemplo, um dos projetos da Clínica em que me envolvi diretamente, o zine Escuta mútua, 2019, reuniu um pequeno mas diverso grupo de mulheres, de diferentes raças, classes sociais, idades, atuações, gêneros, sexualidades, corpos e nacionalidades para ensaiar, hoje, o que pode ser uma democratização da responsabilidade da escuta, ainda atribuída a especialistas das áreas “psi”. Nós fizemos encontros presenciais para pensar essa publicação juntas e, depois, cada uma redigiu depoimentos relatando vivências de opressão suas ou de mulheres próximas. Todas lemos os depoimentos umas das outras e chegamos à conclusão de que esse processo se configurou, na prática, como um exercício de cura. Pudemos nos sentir menos sozinhas nas nossas dores e mais conscientes de violências antes silenciadas. O zine segue em circulação e já recebi retornos diversos, como de mulheres que fizeram leituras coletivas do zine em voz alta e outras que passaram a se reunir periodicamente em espaços públicos para tão somente se escutar[9].
Sobre a Escola Por Vir, acho que é o melhor caso que posso usar para lhe responder, hoje, outubro de 2020, por ela estar em pleno funcionamento durante a pandemia, quando as respostas dos governos para a educação são sofríveis ou inexistentes. Testemunhar uma escola “por vir” sendo, se fazendo no presente, diariamente, tem sido das coisas mais lindas e animadoras acontecendo desde a arte e a educação no contexto atual. Cito o texto de um post recente no Instagram: “Seguimos inventando uma Escola Por Vir que responda também ao imponderável. As crianças da Escola Por Vir moram em ocupações superlotadas, em cômodos diminutos, sem rede de água e esgoto. Ter a Lanchonete<>Lanchonete aberta para recebê-las em grupos menores e com alegria, amor, respeito e saúde para partilhar todos nossos privilégios, inclusive para nos cuidar da Covid, distribuir o pouco de alimento que ainda recebemos, terem a chance de experimentarem a infância em paz, faz parte do que entendemos ser o Programa de Formação em Panificação, Letramento Literário e Saúde Mental que juntes escrevemos para este momento desafiador demais. Crianças são respeitadas na sua infância, mães e avós participam de um grupo de formação recebendo uma bolsa de 720 reais e todes recebem atendimento psi”[10].
Quando a pandemia chegou oficialmente ao Brasil, em março, me pareceu natural que as escolas fossem prontamente fechadas. Eu defendia que tudo que fosse possível fosse fechado, o que nunca aconteceu. Mas escolas foram fechadas. Hoje, sete meses depois, é com tristeza que vejo bares lotados e infâncias sacrificadas. O debate sobre abrir ou não escolas é complexo, especialmente se pensamos que professoras e professores e outros trabalhadores da comunidade escolar, além das crianças e dos jovens, estarão expostos. Mas quem pensa nas mães, que estão cumprindo jornadas contínuas de trabalho, tendo que sobrepor os cuidados com crianças e com a casa com outros tipos de trabalho, realizados na forma de “escritório doméstico”? Quem pensa nas mães sem rede de apoio e sem condições de pagar por cuidados que precisam trabalhar fora de casa, mesmo durante a quarentena? Quem pensa nas crianças, no direito à educação infantil?
Por que bares e restaurantes foram abertos e escolas permaneceram fechadas? Por que trabalhos que poderiam muito bem seguir sendo realizados remotamente voltaram a ser presenciais e escolas permaneceram fechadas? Por que praças, parques e playgrounds ficaram tanto tempo fechados, sendo que é muito mais difícil a contaminação ocorrer ao ar livre? A nossa sociedade escolheu ter como principal referência interesses de mercado, ignorando crianças, mães e pessoas idosas. Pessoinhas no início da vida, suas cuidadoras e pessoas no final da vida deveriam ter prioridade para se movimentar e respirar pela cidade. Se tudo que não é essencial fosse fechado e a educação fosse considerada essencial, os riscos de contaminação nas escolas e por meio delas seria diminuído. Porque seriam menos pessoas circulando no transporte público, menos pessoas se aglomerando em locais fechados e sem máscara… Se houvesse um pacto coletivo pelo cuidado da infância e dos mais vulneráveis, poderíamos até mesmo praticar momentos de silêncio individual e coletivo voluntários, o que é diferente de silêncio imposto, como uma das formas de evitar a contaminação.
Onde está a imaginação política, para reinventar as escolas a partir do efeito de realidade que poderia nos trazer a pandemia? Por que seguir fingindo normalidade, quando tudo que vivemos é novo para nós? Por que escolas foram reduzidas a atividades curriculares, na forma de aulas mediante telas? Como poderiam ser usadas as áreas livres das escolas, como pátios e quadras? Como poderia ser usada a rua, como poderiam ser usados praças e parques? Por que crianças e jovens foram excluídos dessa decisão?
Eu poderia ir longe nesse tema, mas vou me segurar, para tornar possível que, quem desejar, continue o exercício que comecei aqui.
RJ: Para finalizar, queria trazer aqui uma frase do Goethe e lhe propor pensar se há aí um diálogo com a sua trajetória: Kunst ist lange bildend, ehe sie schön ist (antes que bela, a arte é formadora). Na língua alemã a palavra “Bild” (um substantivo, cujo verbo correlato é “bilden”) possui duas vertentes principais de significado: quadro (imagem, pintura, retrato, fotografia) e formar (bilden), dar forma (gestalten) plasmar, construir. Já “Bildende Kunst” significa Artes Plásticas.
Quando traduzimos do alemão para o português desaparece o sentido duplo do termo “bilden”, que está para imagem ou quadro assim como para construção ou formação. Nesse sentido é que a frase de Goethe se torna interessante: jogando com Bildende Kunst (Artes Plásticas), enfatiza o caráter formador da arte (“Kunst ist bildend”).
Em que medida essa frase dialoga com as suas proposições?
GK: Após usar pequenas brechas da maternidade para me dedicar à presente entrevista, sempre tarde da noite, com corpo e cabeça um pouco exaustos, senti vontade de desabafar agora sobre quão trabalhoso pode ser ter que contar a própria história, no lugar de simplesmente vivê-la. Estou muito contente com o que você, Regina e eu construímos juntas até aqui e não é a primeira vez que faço esse exercício reflexivo, indissociável do meu fazer, mas acho bom trazer esse estado de espírito ao texto para a gente lembrar que as coisas não são tão simples ou eficientes como podem parecer.
Eu iria gostar muito se uma pessoa que conhecesse profundamente a minha obra respondesse essa questão no meu lugar. Mas nem sei se essa pessoa existe ou se chegará a existir um dia. Por que estou dizendo isso? Porque vejo muita beleza no meu trabalho, especialmente em alguns vídeos, sempre formados por um único plano cada. Acho que a gente precisa de beleza.
Agora… a minha prática também aponta para uma insuficiência das imagens. É por isso que escolhi não colocar nenhuma imagem de trabalho ao longo desta entrevista, a não ser o diagrama-aula do Jorge, na esperança de que mais pessoas passem a agir com consciência contextual e atenção crítica.
Interesso-me pela beleza dos processos, mais que dos resultados. E me ocorre agora explicar “processo” de três maneiras diferentes: o processo que não gera resultado visível algum; o processo cujo resultado visível tem forma aberta e se transforma com o tempo; o processo de cultivar permanentemente a vida de uma proposição, assumindo-a como uma prática. Alguns trabalhos meus fundem as três maneiras ou duas delas.
Sobre a primeira maneira, a lembrança da minha atuação como professora de Teatro em uma aldeia de crianças órfãs, que viviam em casas com mães sociais. Aquelas crianças tinham vivido violências diversas em suas famílias de origem e muitas tinham passagens traumáticas pela Febem (hoje Fundação Casa). Eram crianças sem chão, sempre muito dispersas no espaço destinado ao nosso trabalho. A imagem que tenho era delas muito leves, correndo e gritando com os braços para cima, como se estivessem se movimentando mais pelo ar que pelo chão. Não era possível sequer dizer “vamos fazer uma roda?” e ter sucesso. Ao chegar para morar nessa aldeia social, essas crianças eram educadas a esquecer seu passado para recomeçar. Mas poder falar sobre a própria história, elaborar sobre a própria história é muito importante. Era final dos anos 1990 e eu não tinha nem vinte anos. Não tinha a pequena noção de psicanálise que tenho hoje. Intuitivamente, comecei a desenhar o rosto de cada uma delas. Uma criança por vez se sentava diante de mim, com uma mesa entre nós, enquanto as outras crianças brincavam, acompanhadas do ator e diretor Fernando Nitsch, na época professor-assistente. Durante cada desenho, eu escutava sobre a história daquela criança, como se fosse uma sessão terapêutica. Ao final, ela recebia o próprio retrato para guardar, se assim desejasse. Esse processo foi bastante longo e acompanhado de uma série de outras experiências de cuidado, que não caberiam nesta já longa resposta. O importante aqui, para resumir, é que me recusei a encenar uma peça de final de ano com o grupo, apesar de ter isso como obrigação, pela associação que me contratava. O grupo chegou a ter vivências mais explicitamente teatrais mediadas por mim e pelo Nando, graças a todo o trabalho de “chão” que fizemos antes. Mas montar um espetáculo só seria possível de maneira autoritária, forçando-os a fazer algo que não tinham vontade de fazer naquele momento. Foi um choque para a associação quando anunciei que havíamos decidido não fazer um espetáculo. Mas sustentei a posição, como um gesto de responsabilidade, e muito segura do processo educativo que a gente tinha compartilhado ao longo de um ano.
A segunda maneira, a minha obra-arquivo Excertos da Vila Itororó (desde 2006)[11]. Esse trabalho fica mais interessante conforme a gente percebe o contexto retratado e seus personagens se transformando. Nos registros de 2006, o urbanista e então vereador Nabil Bonduki aparece defendendo a preservação da Vila como local de moradia, contra a sua transformação em um centro cultural, em diferentes ocasiões. Já nos registros de 2015, ele figura como o Secretário da Cultura responsável por tocar o projeto de centro cultural, uma vez consumado o despejo das famílias. Jaqueline Santana, em 2006, dá banho em seu primogênito Kauã na casa onde morou por mais de vinte anos, na Vila, desde que nasceu. Em 2016, ela troca a fralda de seu quinto filho, Murilo, no escritório do canteiro de obras tornado centro cultural temporário. Já Kauã, se torna o primeiro analisando da Clínica Pública de Psicanálise (e segue até hoje com seu analista) e um dos autores/câmera de excertos do arquivo. Eu mesma tenho meu papel transformado nesse contexto e é meu desejo seguir me relacionando com ele e documentando suas mudanças, ainda que com intervalos de anos.
Como exemplo da terceira maneira de compreender processo, que estou chamando agora de cultivar a proposição, novamente o Projeto Mutirão. Alguns excertos que formam o arquivo do Projeto Mutirão podem ter autonomia, podem ser inseridos individualmente em mostras… inclusive cada um é intitulado individualmente. Mas eles ganham força uns em relação aos outros, uns articulados aos outros, sendo que eu não faço essa articulação sozinha. A junção simbólica de um plano cinematográfico a outro acontece durante encontros presenciais, em longas conversas, por vezes conflituosas, com desdobramentos diversos. Essa prática é profundamente pedagógica. Não no sentido de um ensinamento do público ou de uma alfabetização política, mas de um aprendizado mútuo, uma autoformação. É a gente se perceber como sujeitos dos processos – e de mudanças.
[1] KUNSCH, G. O público de fora. In: ARANTES, P. (org). Arte em deslocamento: trânsitos geopoéticos. São Paulo: Paço das Artes, 2015.
[2] Se desejar conhecer um pouco sobre esses trabalhos, por favor ver <https://naocaber.org/onibus-tarifa-zero-31a-bienal/> e <https://naocaber.org/o-publico-de-fora/>. Nota da entrevistada.
[3] FRASER, Andrea. Fraser. From the Critique of Institutions to an Institution of Critique. In: Alberro, A. & Stimson, B. (eds.). Institutional Critique: An Anthology of Artists’ Writings. Cambridge, MA: MIT Press, 2009.
[4] KUNSCH, G. Um filme não realizável, uma prática documentária. Comunicação realizada na XIII Socine, 2009, disponível em <https://naocaber.org/blog/2016/04/09/um-filme-nao-realizavel-uma-pratica-documentaria/#more-1246>.
[6] A abordagem Pikler se baseia no reconhecimento de bebês como sujeitos capazes, desde o nascimento; no cultivo do vínculo afetivo; na liberdade de movimento (por meio da brincadeira livre, não dirigida); e no desenvolvimento da autonomia. Para uma introdução à abordagem no português, recomendo a leitura de Vínculo, movimento e autonomia: educação até 3 anos, de Suzana Soares (São Paulo: Omnisciência, 2017) e As origens do brincar livre, de Eva Kálló e Györgyi Balog (São Paulo: Omnisciência, 2017). Em breve será publicada uma edição revisada da obra esgotada Educar os três primeiros anos: a experiência de Lóczy, organizado por Judith Falk. Aos poucos, irei publicar registros em vídeo da brincadeira livre/motricidade livre da minha filha na página <brincadeiralivre.naocaber.org>. Nota da entrevistada.
[7] <http://museudeartedorio.org.br/en/scheduling/if-you-dont-fight-you-die-art-democracy-utopia/>.
[8] Simon Sheikh é um estudioso dedicado de Cornelius Castoriadis, de quem recomendo fortemente “A instituição imaginária da sociedade” (editora Paz e Terra). Nota da entrevistada.
[9] Publicação impressa realizada pelo Sesc Santana, em duas edições, por ocasião do Festival De|generadas 5, 2019. Uma versão PDF pode ser baixada em: < https://naocaber.org/zine-escuta-mutua/>. Autoras dos depoimentos: Amanda Beraldo, Beatriz Moraes, Eduarda Casal de Rey Chaves, Graziela Kunsch, Júlia Oliveira, Manuela Ferreira, Maria Luiza Santana de Meneses, Maria Paula Botero e Veridiana Dirienzo. Preparação de texto/dramaturgia: Graziela Kunsch. Desenhos e design gráfico: Deborah Salles, em diálogo com Graziela Kunsch. Nota da entrevistada.
[10] Página de Instagram da Lanchonete<>Lanchonete, que acolhe a Escola Por Vir: @lanchonete.lanchonete. Nota da entrevistada.
[11] Ver vilaitororo.naocaber.org. Nota da entrevistada.
Entrevista publicada na revista Farol, da pós-graduação em artes visuais da UFES, junto a entrevistas realizadas por Regina com Jorge Menna Barreto e Fábio Tremonte. As três entrevistas foram agrupadas na forma de um único artigo, intitulado “Arte, formação e transformação na trajetória de três artistas brasileiros contemporâneos”: https://periodicos.ufes.br/farol/article/view/34032/22777?fbclid=IwAR3eA6c85d4IgyU4QMi7Tm_NoHr7uwH9ZEb3KW5ieZx2JO-kZ65PkHSB-Io
A entrevista foi realizada em 2020 e publicada no início de 2021
Devolver afeto à história
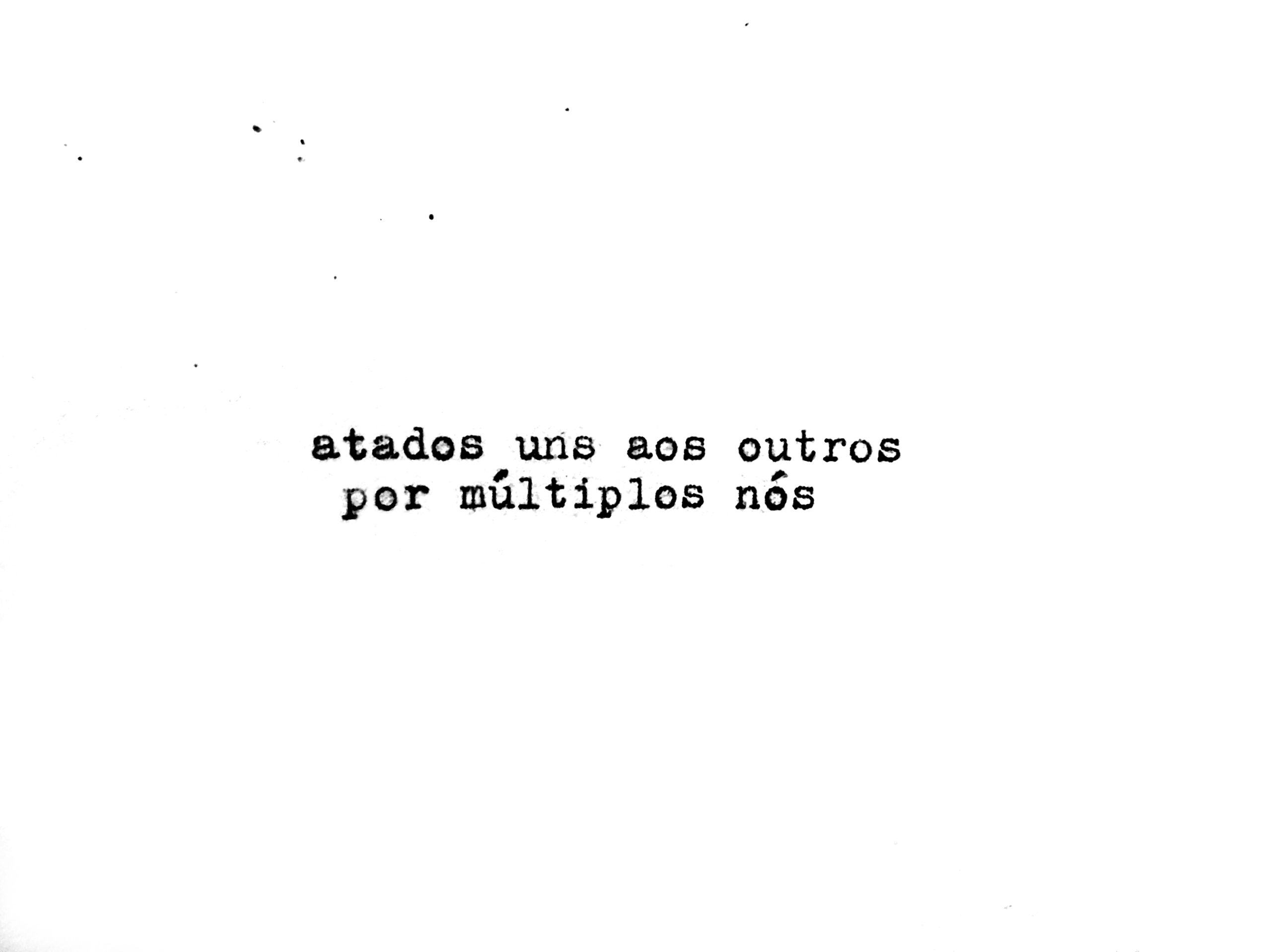
desenho de Daniel Guimarães
Conversa organizada pelo grupo Contrafilé na Clínica Pública de Psicanálise, no primeiro semestre de 2019, com a participação de Graziela Kunsch. A conversa foi transcrita na publicação Escola de Testemunhos – material de estudos para aulas-performances, realizada pelo grupo por ocasião da exposição Meta-arquivo: 1964-1985, com curadoria de Ana Pato em parceria com o Memorial da Resistência, Sesc Belenzinho, 2019
Devolver afeto à história
Grupo Contrafilé
Tecendo a manhã
João Cabral de Melo Neto
Um galo sozinho não tece a manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro: de outro galo
que apanhe o grito que um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzam
os fios de sol de seus gritos de galo
para que a manhã, desde uma tela tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.
E se encorpando em tela, entre todos,
se erguendo tenda, onde entrem todos,
se entretendendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão
[poema compartilhado por Kwame Yonatan, por trazer, como ele nos contou, “a importância do testemunho”]
Ao longo deste nosso processo de pesquisa, conforme adentramos o vasto mundo dos arquivos pela via dos testemunhos do Memorial da Resistência, fomos sentindo desejo de aprofundar nossa própria compreensão acerca do testemunho como produção de pensamento, de memória e de prova; gesto vivo, político, clínico e educativo de construção da história. Por isso, convidamos para um bate-papo alguns coletivos que trabalham ativando testemunhos tanto do passado, quanto do presente, fazendo-os, inclusive, convergirem em muitos sentidos. A conversa aconteceu em maio de 2019, na salinha da Clínica Pública de Psicanálise, no canteiro aberto da Vila Itororó, e teve participação de Graziela Kunsch[1] e Kauã Santana[2], pela Clínica Pública; de Kwame Yonatan[3], pelo coletivo Margens Clínicas; e de Lucas Sanches[4], pelo projeto História da Disputa: Disputa da História.
Uma definição de testemunho
Grupo Contrafilé: Sabemos que a Clínica Pública, o Margens Clínicas e o História da Disputa: Disputa da História são grupos que têm um trabalho com a escuta, com a fala, com o testemunho; e, a partir de suas experiências e percursos, queremos pensar o testemunho como um lugar educativo, para reconhecer, nele, o que a gente aprende, o que o testemunho ensina, por isso estamos aqui juntas/os…
Graziela Kunsch: Queria pedir uma coisa antes, que pode ser um exercício legal para todos/as nós. Uma vez que toda a discussão vai ser sobre testemunho, como explicar essa palavra para o Kauã? O que é testemunho? Kauã, elas estavam explicando que são artistas e estão fazendo uma pesquisa em um arquivo que tem depoimentos de pessoas que, de alguma forma, foram vítimas da ditadura no Brasil – a época em que o país foi governado por militares e muitas/os foram presas/os, torturadas/os e/ou assassinadas/os. Elas, do Grupo Contrafilé, estão pensando esse processo desde a ditadura até hoje e, por isso, há aqui nessa conversa pessoas que trabalham com vítimas da ditadura e da violência de Estado também no presente. Não é só sobre quem, por exemplo, foi assassinado lá atrás. Tudo que aconteceu nesse período tem consequências também nos que sobreviveram e em novas gerações, filhos, netos, outras pessoas das famílias… E uma das formas de a gente saber o que se passou e o que ainda se passa é escutar a história dessas pessoas… e isso vai ter relação com testemunho… mas eu preferia que alguém explicasse, talvez o Kwame, uma vez que o Margens trabalha bastante com a ideia de testemunho.
Kwame Yonatan: É, usamos bastante essa palavra. Testemunho é uma história que você conta. Testemunho é essa tentativa de dar sentido àquilo que você passou. Então, o testemunho tem duas direções: para quem escuta e para quem está falando. E quando damos o testemunho de alguma coisa, também nos escutamos falando, contando a história, repensando sobre aquilo e como aquilo nos afetou.
Lucas Sanches: Por exemplo… na igreja. Você vai à igreja, Kauã?
Kauã Santana: Sim, vou.
LS: Na igreja sempre tem um momento dos testemunhos, né? Esse momento é bem importante, é quando as pessoas ativam, digamos assim, com palavras, a memória delas, elas põem a memória delas para fora. Acho que essa é uma dimensão do testemunho.
GK: Ao falar a partir da nossa memória, a gente pode perceber o que aconteceu com a gente, tomar consciência daquilo que viveu. E ver que a nossa história individual é também, muitas vezes, uma história coletiva. Kauã, achei fundamental sua presença aqui hoje, por estarmos na Vila Itororó, que foi, e ainda é, um lugar de disputa. Você conhece essa história melhor que todo mundo aqui. Eu conheci o Kauã bebê, em 2006, quando ele tinha um ano, aqui na Vila. E quando nos reencontramos, pouco antes de o canteiro de restauro da Vila abrir para a cidade, em março de 2015, o Kauã estava aqui com uma de suas tias e com sua avó, e muito curioso com tudo, tentando se lembrar de como tinha sido morar aqui e tentando entender essa história, por que tiveram que ir embora em 2011. Perguntava tudo. Aos poucos, você foi construindo um testemunho a partir de sua memória. E de seus desejos também. Você não deixou essa história só no passado; você sempre me fala que queria poder voltar a morar aqui
KS: Aqui é muito melhor que morar num apartamento, porque aqui existe espaço. O apartamento é fechado, não tem tanto espaço, tanto lazer como a gente tinha quando morava aqui. Na rua a gente não tem espaço para jogar bola, por causa dos carros… aqui, não, aqui isso era comum, no pátio não passava carro, e aqui havia show, festa, já houve até filme feito aqui, havia muitas coisas…
KY: Kauã, a Grazi acabou de dar um testemunho sobre você. A partir da Vila Itororó, ela fez um testemunho sobre você. É isso. Isso é o testemunho, de uma forma sintética. Essa palavra, testemunho, ela é muito ligada ao policialesco… Da polícia, e parece uma palavra meio neutra, meio morta, sem afeto. E o processo é exatamente o contrário. O testemunho traz, de novo, o afeto para a história. Esse é o problema do arquivo morto, é uma coisa distante, mas quando vemos o testemunho, nos encontramos com as pessoas, é muito diferente, existe um traço vivo.
GC: Isso é muito importante. Você pode falar um pouco mais para a gente sobre o afeto do testemunho?
KY: O testemunho tem uma particularidade, é uma narrativa que consegue, de alguma forma, atualizar o presente. O testemunho sobre a ditadura militar, para nós, do Margens Clínicas, ressoa como uma forma de mobilizar um afeto que vem do silêncio, da gestão da invisibilidade, desse governar para fazer desaparecer, para produzir desaparecimento. Nesse sentido, acho que o testemunho só faz sentido quando ele toca, quando consegue, de alguma forma, transmitir mais que o conteúdo, então ele tem essa funcionalidade de produzir laço quando ajuda a nomear alguns afetos. A gente fez uma conversa pública, por exemplo, com trabalhadores de políticas públicas, sobre qual a relação da precarização dessas políticas, hoje, com o que aconteceu na ditadura, e conseguimos lembrar que, na ditadura, a primeira política pública precarizada foi a educação. E fomos conversando sobre como isso reverbera hoje. O testemunho trata-se, então, de você não guardar aquela história, mas deixá-la reverberar, tanto em quem escuta, quanto em quem conta.
GC: A gente tem pensado muito nessa dimensão do falar e do escutar – inclusive o falar e o escutar como “arte”. A história oral é uma prática ancestral, e nós, como coletivo, praticamos muito esse modo de contar histórias com as pessoas e outros grupos com os quais trabalhamos. Fica óbvio que esse não é um saber ocidental, europeu, mas é um saber que vem de várias origens culturais, com suas diferentes cosmologias e particularidades. Pensando nisso: por que vocês estão trabalhando com isso? Por que esse lugar mobiliza cada um de vocês?
A clínica pública de psicanálise
GK: Vou contar sobre a origem da Clínica Pública de Psicanálise e como pensamos testemunho, e é importante dizer que eu e o Dani (Daniel Guimarães, psicanalista cofundador da Clínica) preparamos esta fala juntos, mesmo que ele não esteja aqui de corpo presente. A Clínica Pública nasceu em 2016, aqui no canteiro aberto da Vila Itororó, onde continua existindo. Foi imaginada como uma forma de não esquecimento da violência que se deu nesse contexto – a retirada forçada de moradores para a construção de um centro cultural. Ainda que moradores tenham assinado um acordo e recebido apartamentos parcialmente subsidiados pelo governo do Estado e pela prefeitura, não puderam escolher permanecer aqui; não couberam no projeto de Cultura da prefeitura, o que, para nós, caracteriza uma violência
A Vila Itororó tem uma história de moradia, luta e resistência, na área central da cidade, que não pode ser esquecida. E esse não esquecimento se dá tanto através do testemunho direto dos portadores dessa história – os ex-moradores – para integrantes da Clínica, como na percepção, por parte daqueles, de que sua história é legitimada e reconhecida socialmente. Os ex-moradores são o motivo, a razão de existência da Clínica nesse contexto, e não em outro, mas a ideia é que não fiquem presos a essa história. Que possam, através do testemunho, um dia, tornarem-se “ex-ex-moradores”, se assim desejarem. A Clínica faz essa mediação. Mesmo tendo uma maioria de analisandos que vêm de diferentes cantos da cidade (e não apenas ex-moradores), em todas as nossas aparições públicas (falas, textos, materiais permanentes), fazemos questão de reforçar essa origem, o sentido desse contexto específico de atuação. E os ex-moradores acabam sendo, de certo modo, coterapeutas na cidade. Porque a história deles é também a história de muitas outras pessoas e de muitos outros lugares, todos consequências das disputas espaciais desejadas pelo mercado e mediadas, autorizadas, executadas pelo Estado.
O não esquecimento dessa história e sua legitimação tornam possível que essa parte da vida dessas pessoas seja integrada a sua vida psíquica. A coisa não dita, não elaborada ou, pior, silenciada, caracterizaria um não acontecimento, geraria uma lacuna. Lacuna, vazio capaz de produzir sofrimento, dúvida, culpabilização própria e uma série de outros efeitos imprevisíveis. Não falar sobre, não existir história sobre, produz efeitos psíquicos. Neste caso, inclusive, efeitos intergeracionais, porque se trata de famílias, de pessoas que nasceram, cresceram e continuarão uma linhagem familiar com essa parte de sua história, agora, talvez, integrada, podendo ser contada, e não voltando como sintoma, no futuro. Sintoma no sentido de não compreensão da própria história, não só pelo sujeito que a viveu, mas, ainda mais grave, por aqueles que ainda virão.
Então, apostamos nos efeitos psíquicos saudáveis da fala testemunhal, que implica a escuta daquilo que está sendo dito, de maneira a testemunhar, reconhecer, legitimar o que está sendo dito, no lugar de duvidar daquilo que está sendo dito por motivos de interesses em disputa.
GC: Você falou sobre a lacuna, é muito interessante, isso me fez entender essa lacuna que a mudança violenta da paisagem provoca, em todos nós, produzida por uma série de decisões autoritárias do Estado e do mercado.
GK: O sentimento nem sempre claro de impotência, de não pertencimento… O testemunho é importante justamente para produzir sentido. Sem o testemunho, ou seja, se essa história não é elaborada através da fala, se ela não é reconhecida e legitimada através da escuta, isso gera uma lacuna no próprio indivíduo que não pôde elaborar sobre essa história. É uma lacuna psíquica, vamos dizer assim, um vazio, que pode ser inconsciente. E esse inconsciente é tanto individual como social. A coisa vai para outra escala. A gente pode pensar desde o indivíduo até a sociedade, a cidade, apagando sua história.
A história da história
LS: Eu sou historiador, faço parte do coletivo História da Disputa: Disputa da História, que é uma proposta de história pública, de compartilhamento de memórias. O principal trabalho do coletivo, neste momento, tem a ver com os testemunhos do Memorial da Resistência, como vocês já devem estar a par. Sobre a oralidade, sobre o testemunho, eu acho que, como sou historiador, vou contar a história da história. No pensamento ocidental, muita gente diz que o primeiro historiador de todos os tempos foi Heródoto, porque foi o primeiro cara a concatenar, em palavras escritas, o fluxo dos acontecimentos do homem no tempo. Assim, ele tem essa fama de ser o primeiro historiador. Mas ele só foi o primeiro que escreveu sobre história, o primeiro de que a gente tem registro, é bom explicitar isso. A história que a gente pratica hoje é bem diferente daquela, e ela tem relação com o fim do século 19; nesse período, pensava-se que a história só poderia ser contada tal como aconteceu. E essa narrativa se baseava nos grandes monumentos e nos documentos escritos, então, a história dedicou boa parte de seu tempo a investigar esses escritos, por exemplo, se eram verdadeiros ou não ou quais palavras se repetem de um documento para outro.
No começo do século 20, essa ideia da história foi mudando, mas o grande ponto de transição foi a guerra, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. No entreguerras, já havia uma crise acontecendo, que produziria mudanças. E, a partir da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa viveu um trauma enorme – e o trauma tem esse potencial de ter que ser exposto, ter que ser falado como testemunho –, os historiadores começaram a pensar em quanto vale o testemunho, uma vez que, por exemplo, os papéis dos nazistas não diziam que eles matavam gente em campo de concentração, depois os documentos vieram à tona, mas as pessoas falavam sobre isso antes de os documentos estarem visíveis.
E qual a importância disso? Aonde eu quero chegar? A gente começou a dar mais valor para os testemunhos, os historiadores começaram a dar mais valor para a história oral. Enfim, muito tempo se passou, estamos agora no século 21, e ainda continua essa ideia de que o testemunho, a memória das pessoas, falada, contribui muito, tanto quanto a memória escrita sobre determinado objeto. Essa perspectiva, para nossos fins, da História da Disputa, é mais próxima à história pública, ou seja, é uma história que pode ser compartilhada por todos e é composta por todos; acho que é importante pensar no testemunho como algo extremamente plural. O testemunho nunca se repete; na minha opinião, a palavra escrita pode se repetir, mas o testemunho nunca se repete. Se você perguntar para uma pessoa, hoje, ela vai falar uma coisa e, amanhã, vai falar de outra forma. Então, por isso é interessante comparar os testemunhos, comparar o que as pessoas falam sobre o mesmo tema, até porque acho que a posição que se toma no presente define a concepção que se tem do passado. De qualquer forma, para mim, não se pode, enquanto historiador/a, abdicar de uma busca por algo próximo de “verdades”, mesmo se estas não forem convenientes ao nosso discurso presente. E essa busca acontece a partir de testes às provas do passado, que são os documentos em sua variedade, sejam quais forem eles.
O testemunho como construção de memória
KY: A partir do que vocês foram falando, eu me lembrei de um vídeo do Mateus Aleluia, não sei se todo mundo conhece, um cantor fantástico, negro, velhinho… Nesse vídeo, ele descreve como nasceu a arte: nasceu do homem nas cavernas vendo aquela beleza toda e desejando testemunhar aquilo que via.
Fiquei aqui pensando nisso, que não é o tempo que passa por nós, a gente é que passa pelo tempo. A gente vai construindo uma perspectiva sobre o tempo e, nessa perspectiva, dando sentido às coisas, significado, direção, sensibilidade para isso. O testemunho vai construindo nossa realidade também. O Eduardo Galeano fala que não somos feitos de átomos, somos feitos de histórias. A história que a gente conta sobre nós mesmos, como a Grazi fez agora há pouco com o Kauã, a história que a gente escuta de nós, “quando você era pequeno, você era assim…”, então, o testemunho tem essa função quase existencial, ele dá preenchimento a nós, a como enxergamos o mundo. Pensando na Clínica, isso traz algumas questões importantes: como a gente conta nossa história e como a gente é contado pela história?
Eu vou dar um exemplo que atravessa a mim e ao Kauã: dia 13 de maio de 2019, a abolição fez 131 anos, mas esse é um jeito de contar a história da abolição, que confronta com o dia 20 de novembro, que é outro jeito de contar essa mesma história. Por quê? Dia 13 de maio carrega a história de que alguém veio e concedeu a liberdade aos escravizados, uma pessoa branca veio e assinou nossa liberdade. E não foi isso. A maior parte das pessoas escravizadas na abolição já estava livre. Isso muda a história do Brasil. Se você for pensar, para que, então, serviu a abolição da escravatura? Para contar a história de um jeito, para testemunhar de um jeito. E, como contraponto, o 20 de novembro carrega a história da resistência. O dia 20 de novembro marca uma conquista do movimento negro, foi uma reivindicação: “a nossa história é dia 20 de novembro, com Zumbi, não fomos passivos”.
Por que estou contando essa história, dando um testemunho sobre nossa abolição? Porque o período pós-abolição tem muito a ver com a maneira como a gente conta nossa história coletiva, que é uma história muito violenta, mas também de muita resistência. E se a gente não coloca a ditadura militar dentro desse escopo de violência, a gente não entende por que a polícia continua militarizada e por que ela continuou atuando do mesmo jeito depois de terminar a ditadura. O Brasil, entre os países da América Latina, foi o único que teve a polícia militarizada. Isso tem um sentido na nossa história. A gente faz política com a polícia e vice-versa.
O testemunho, a memória, por assim dizer, tem uma via muito perigosa, que é a via do ressentimento, de ressentir a história, que é um pouco o 13 de maio, nesse sentido de: “Você é só isso, você não é nada além dessa história”. E quando a gente pensa na Lei 10.639, uma lei de 2003 que obriga todas as escolas brasileiras, todo o ensino público, a ensinar a história da África, a história afro-brasileira e indígena, e que até hoje não foi implementada?! Por quê? Porque olhar para a história desde outras perspectivas muda o nosso imaginário sobre nós mesmos/as. Se a gente for pensar, muda completamente a história do Brasil e de como a nossa atualidade foi se compondo, por exemplo, todas/os poderiam ter acesso à história da luta dos escravizados para não morrer de banzo – essa patologia, esse efeito da colonização, do trauma da escravidão, que tem a ver com a tentativa de apagamento, de afirmar que não havia uma história do lugar de onde viemos, de reafirmar que não havia nada, nem ao menos um lugar de onde viemos. Muda também a aceitação do mito da “democracia racial”, o mito de que todos somos iguais, de que há, no Brasil, uma harmonia entre as raças – porque as pessoas passam a não aceitar mais essa versão da história.
GK: Kwame, você estava falando sobre esse processo histórico que trouxe várias consequências para o presente, uma delas, a polícia militarizada. Kauã, você não deve ter estudado ainda a ditadura militar na escola, mas uma coisa que você conhece, na prática, é como a polícia atua.
KS: Sim. Um dia eu estava voltando da casa da minha tia, eu tinha ido deixar as crianças lá, porque elas iam jogar bola, e eu simplesmente fui parado, perguntaram se eu estava com o RG, eu falei que não e, por eu não estar com o RG, levei um tapa. Depois disso, o policial simplesmente entrou no carro e foi embora. Foi do nada. Aí eu fiquei pensando sobre isso…
GC: Um tapa na cara?
KS: Um tapa na cabeça… Eu meio que esqueci, não me liguei muito, mas, mesmo assim, não gostaria de passar novamente por nenhuma experiência assim. Eu era ainda mais novo, foi no ano passado. Foi uma única vez e espero que continue assim.
KY: É triste, Kauã, ouvir isso, porque você tinha doze anos, você tem treze agora, estamos em 2019. A gente fica pensando: até quando vamos ouvir histórias de pessoas tão novas, histórias tão parecidas, por conta da cor da pele? Por conta do racismo? Essa é uma herança do processo escravocrata, é a continuidade da mesma lógica. E é interessante você ter falado nisso, porque eu trabalhei com meninos em medida socioeducativa. Não sei se você sabe o que é isso. São jovens que cometeram alguma infração e cumprem medidas socioeducativas. Eles faziam seus testemunhos e contavam histórias muito parecidas com a sua, com alguns requintes de crueldade. Houve um menino de quem o policial ameaçou tirar um dente com alicate. Quem é historiador sabe de onde vem essa história. De tortura, da ditadura militar. Se a gente for olhar nosso processo de redemocratização, a anistia geral para todos – processo muito diferente do que aconteceu na Argentina, onde torturadores foram julgados e presos-, trouxe consequências para a nossa história, os torturadores continuam soltos, muitos no poder, e essa mesma lógica chega em você, chega em mim, chega em todos, de formas diferentes, lógico. É aí que entendemos que o mito de que todo mundo é igual, não é nem de perto verdade, porque nem todo mundo vai ter essa experiência que você teve, e menos ainda com doze anos!
Por que eu estou tocando nisso? Porque, no processo de as pessoas testemunharem a ditadura, houve um apagamento da atuação dos movimentos negros, que foram muito fortes e ameaçavam esse mito. Como os militares entendiam? “A galera do movimento negro vai vir com essas coisas dos Estados Unidos, vai trazer uma ideologia de racialização.” Soa parecido com alguma coisa que a gente conhece hoje, né? De que o racismo é coisa rara, não existe, de que essas histórias não são comuns, são apenas um detalhe da nossa história. E não. É só a ponta do iceberg, desse iceberg, desse mito que é o modo como nos socializamos, como nos entendemos. O efeito disso é que as reivindicações que existiam no movimento negro, a luta do movimento negro não entrou também como uma luta contra a ditadura, ficou à parte. E existe toda uma história do movimento negro que era também uma história de luta contra a ditadura. Então, esses testemunhos do movimento negro têm que vir à tona, porque de fato eles podem produzir efeitos na realidade. A forma como a gente conta a história influencia na forma como a gente vive, influencia na forma como a gente produz políticas públicas, produz nossa clínica, produz entendimento e perspectivas a respeito do nosso contexto.
E, só para fechar, para finalizar essa questão da importância do testemunho, de pensar que ele tem um efeito transformador na realidade, penso que, nessa disputa narrativa, nessa disputa da história, de como a história vai ser contada, algumas coisas podem se manter como estão, algumas ideias, algumas práticas, alguns mitos vão se perpetuar, se a gente não disputar as narrativas: “Espera aí! Não foi assim a ditadura, não foi só isso que aconteceu”.
Terapia-arte
GC: Grazi, você pode falar um pouco para a gente sobre a relação entre arte e clínica, ou arte e testemunho?
GK: É uma pergunta ampla para mim, eu teria que pensar mais para escolher um caminho para responder… mas uma coisa que sempre gosto de dizer sobre a arte da Clínica Pública, vou tentar elaborar aqui, é assim: para mim, nos meus processos como artista e como educadora, é muito importante que esses processos sejam suficientemente abertos ou radicalmente abertos, a ponto de engajar pessoas, e essas pessoas transformarem os processos. Então, ao propor algo, tenho que ter uma abertura para respostas, as mais inesperadas. Não é uma proposição predefinida para alguém participar de diferentes formas, mas uma proposição incompleta, em pleno processo, em plena construção. Tão inacabada, a ponto de ser recusada, ou repensada, ou transformada por quem nela se engajar.
E a Clínica Pública tem isso como premissa também. Por que ela chama Clínica Pública de Psicanálise? Ela não é uma clínica estatal (ela acontece em um espaço da prefeitura, mas não é subsidiada pela prefeitura). Ela é pública porque acontece no espaço público, é pública porque é gratuita, e é pública – aí entra isso que eu disse antes – porque é cotidianamente transformada por quem faz parte dela, aí incluídos seus usuários. Então, não são só os psicanalistas e artistas integrantes da Clínica determinando como a Clínica existe, como vão se dar os processos das conversas e tudo o mais, mas as próprias pessoas que usam colaboram nessa construção. E estou insistindo nisso, porque existem outros projetos de clínica psicanalítica gratuita na cidade, que nasceram depois do nosso, e funcionam de outra forma. Ali, o setting – um termo técnico na psicanálise, o arranjo, a forma como os atendimentos acontecem –, esse setting é predeterminado por um psicanalista ou por um grupo de psicanalistas. Eles vão dizer: “aqui funciona da seguinte forma”; e não pode ser de outra forma. Então, por exemplo, há casos em que a pessoa vai a um plantão, é atendida por alguém e, na outra vez que voltar, necessariamente, vai passar com outro analista e a cada vez com um analista diferente. Esse revezamento é um setting predefinido, como uma forma fechada. Aqui, a gente prioriza a continuidade, a formação de vínculo, e há diferentes formas abertas de esse trabalho acontecer, algumas delas instituídas pelos usuários.
Para dar um exemplo: desde que abrimos a Clínica, há três anos, a gente tinha o desejo da prática de grupo, mas, naquele momento, priorizamos as conversas individuais, porque queríamos, em um primeiro momento, escutar ex-moradores da Vila e pessoas de movimentos sociais. Éramos até mesmo cobrados: “vocês são um projeto político, então precisam fazer sessões em grupo, não individuais”. E a gente respondia que tinha vontade de fazer grupo, mas explicava que, naquele contexto, a escuta individual era fundamental; que essa metodologia era política também, se não mais política. Os indivíduos da Vila Itororó foram, por décadas, tratados como massa, sem nome, sem rosto, sem história, e era importante essa atenção “um pra um”. As pessoas de movimentos sociais muitas vezes adoecem por terem suas singularidades anuladas, em nome das questões coletivas, então também precisam de escuta individual. Só que aí, o que aconteceu? Um ano depois do início da Clínica, quando a gente já tinha um desejo ainda mais forte de começar um grupo, além das sessões que passaram a ser chamadas de “indivi-duais”, foram os usuários da Clínica que ensaiaram essa experiência, que nos ensinaram que era possível fazer. Como? Pessoas que vinham para seu atendimento indivi-dual, às vezes, permaneciam mais tempo no canteiro aberto, aqui no galpão, e prolongavam as conversas entre si. Havia também gente que vinha ao plantão aberto e não conseguia pegar uma senha para ser atendido pela primeira vez, então ficava no canteiro e acabava conversando com essas pessoas, em grupos pequenos. Havia, em comum, toda a piora emocional e econômica advinda de um ano do golpe. Essas pessoas, bem diferentes entre si, foram ensaiando um grupo terapêutico, e a gente só fez instituir mesmo, propondo que acontecesse todo sábado, às 11 horas. Há dois anos esse grupo acontece, mediado por dois a três psis. Agora, vão nascer outros. A partir de conflitos que surgiram na própria prática de grupo, nasceu um grupo só de mulheres, e por aí vai… As necessidades vão emergindo. É nesse sentido que eu falo: não é apenas a gente pensando e determinando “vai ter grupo, vai funcionar assim, assim”. Não. As coisas surgem pelo próprio trabalho, através de escuta verdadeira, de abertura a respostas inesperadas. Na própria relação analista-analisando, surgem arranjos diferentes, em uma construção a dois. Kauã, você, por exemplo, conversa com o Daniel aqui, nesta salinha?
KS: Não só. Aqui em cima, lá embaixo…
GK: Fazendo um café, caminhando… Isso vai sendo construído na própria relação…
GC: O que tem muito a ver com a arte.
GK: Ao menos com a maneira como eu imagino e desejo a arte, com essa abertura radical necessária para se fazer uma obra verdadeiramente pública. Então, vários processos artísticos que proponho têm isso. Acho que vocês conhecem um pouco do Projeto Mutirão, que realizo desde 2003. Essa obra mobiliza, durante conversas em contextos específicos, um arquivo de vídeos de lutas espaciais e políticas, na cidade e no campo, vídeos formados por um único plano cada, carentes de articulação… o Projeto Mutirão é isso, uma obra inacabada que assume a forma de um projeto, no sentido de algo que ainda não é, mas será o que a gente for fazer dele, coletivamente. E ele vai mudando com o tempo, sem perder acúmulo e tudo, mas se transforma. A Clínica também se transforma cotidianamente. Então, a principal relação que eu faço com a arte é essa. Existem outras. O fato de a Clínica acontecer em pleno canteiro aberto, que é um lugar onde a própria ideia de cultura está em construção ou em disputa… onde a gente entende o próprio morar como cultura, com gente cozinhando, comendo, dormindo e tomando banho, em meio a crianças brincando, cachorros correndo, pessoas ensaiando teatro, dança e circo, fazendo música… A pessoa que vem para cá é o tempo todo atravessada por essa vida do canteiro aberto, o que é muito diferente de um consultório privado ou de um hospital. A Clínica é inserida na cultura cotidiana e atravessada por ela, atravessada pela cidade. Ela se torna testemunho vivo das transformações e dos apagamentos em curso na cidade. Não é arte-terapia, mas terapia tornada arte. A gente está aqui nesta salinha mais preservada, mas a Clínica acontece por todo o galpão, que é uma extensão da rua, e mesmo pelo pátio da Vila, dentro de uma casa da Vila, na cozinha dos trabalhadores, na calçada… bastam duas pessoas, ou duas cadeirinhas para a coisa acontecer.
[1] Graziela Kunsch é artista socialmente engajada. Como responsável pela formação de público da Vila Itororó Canteiro Aberto, defendeu que o alegado “interesse público” da área não excluísse ex-moradores da Vila Itororó e realizou ações contra o apagamento dessas pessoas e da memória da Vila como lugar de moradia. Entre suas proposições no contexto – em diálogo com o psicanalista Daniel Guimarães, interessado em uma psicanálise popular, não elitista – está a Clínica Pública de Psicanálise, formada por psicanalistas e artistas que defendem a importância dos cuidados com a saúde psíquica, acessível a todas e todos, e sua relação com a cultura e a ampliação dos espaços públicos. A Clínica existe desde 2016 e realiza cerca de 390 sessões terapêuticas gratuitas por mês, “indivi-duais” e coletivas, entre outras ações, artísticas e clínicas. O grupo da Clínica hoje é formado por Ana Carolina Santos, Breno Zúnica, Camila Bassi, Camila Kfouri, Dafne Melo, Daniel Guimarães, Daniel Modós, Fernando Pena, Frederico Tell Ventura, George Amaral, Graziela Kunsch, Isabel Drummond, Manuela Ferreira, Maria Aguilera, Naira Morgado e Veridiana Dirienzo, e tem como supervisoras dos atendimentos Heidi Tabacof, Maria Silvia Bolguese, Marta Azzolini e Maurício Porto. Com um processo permanente para entrada de novos membros, a Clínica vem se configurando, também, como um espaço de formação. Mais informações em: fb.com/clinicapublicadepsicanalise.
[2] Kauã Santana nasceu e viveu na Vila Itororó até os seis anos de idade (2011) e, desde 2016, integra a Clínica Pública de Psicanálise, como analisando.
[3] Kwame Yonatan é psicólogo formado pela Universidade Estadual Paulista – campus de Assis, com mestrado na mesma instituição na área de psicologia e sociedade. Participou de pesquisas acadêmicas na área de atenção básica e atenção psicossocial. Possui três livros publicados. Em 2018, ganhou o prêmio “Jonathas Salathiel”, promovido pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, por seu artigo sobre psicologia e relações raciais. Tem experiência profissional em assistência social, atuando como psicólogo no Centro de Referência da Assistência Social e no Serviço de Medida Socioeducativa – regime aberto. É membro do coletivo Margens Clínicas, grupo de psicanalistas e psicólogos que atuam no enfrentamento da violência de Estado. Foi supervisor institucional, pelo Margens Clínicas, de um grupo transdisciplinar (com profissionais do Sus e do Suas) em um projeto do Centro de Estudos em Reparação Psíquica, financiado pelo Newton Fund. Atende na clínica há quase dez anos, trabalhando, prioritariamente, com a população vítima da violência de Estado. Atualmente, cursa o doutorado no Núcleo de Subjetividade do Programa de Pós-Graduação de Psicologia Clínica da PUC-SP.
“Considerando-se o estado de exceção permanente experienciado por grande parcela da população, o Margens Clínicas, coletivo formado por psicanalistas, psicólogas e afins, tem se dedicado a pensar as interfaces do sofrimento psíquico com as patologias do social, elaborando, a partir da escuta clínica, insumos para o enfrentamento à violência de Estado. Atualmente, temos como eixo central de trabalho o desenvolvimento de dispositivos clínicos comunitários que visam a recuperação de memórias e o fortalecimento de laços de cuidado e solidariedade, deslocando a noção de saúde mental de uma perspectiva individualizada e psicopatologizante, para uma perspectiva cultural, desde sua interface política, histórica, territorial e social.” In: https://www.margensclinicas.org, última consulta em 13 de junho de 2019.
[4] Lucas Sanches é historiador em formação e participante do coletivo História da Disputa: Disputa da História desde 2018.
História da Disputa: Disputa da História é um coletivo formado por historiadores, dedicado à pesquisa, produção e difusão de conteúdo historiográfico e orientado a partir da história dos vencidos, ou seja, a partir de documentos, testemunhos, memórias e dinâmicas produzidas por atores sociais geralmente ignorados pela história tradicional. Para isso, a metodologia inclui a ocupação dos espaços públicos com a finalidade de propor um debate com as pessoas participantes que abarque suas experiências afetivas e conhecimentos relacionados a esses espaços, buscando, através dessa partilha, interferir ativamente nos usos e construções dos mesmos, e disputar a narrativa hegemônica que os define.
Art without a work of art: Graziela Kunsch in conversation with Alek Hudzik
What is the subject of your work?
Myself and the people I meet in everyday life. I like working with people who are different from me but share a common goal.
While reviewing your work, I wondered if your work – or any project – ever ends.
In my practice, the form never closes, because even when I make a framed drawing, the circulation of the work is part of the work itself. It is always a specific response to a certain context, as in the case of the drawing I prefer not to do – its content changes slightly in each context where I use it. My long-term projects engage people in different ways, so they are always open to transformation.
I think that in the case of some of your works, one can’t talk about them as artistic projects. I remember your work Public Clinic of Psychoanalysis, which defies the definition of a ‘project’.
Art is a proposition for me, in the sense of Lygia Clark’s Caminhando. The proposition must be sufficiently open, unfinished, to make possible the entry of the other. In the Public Clinic of Psychoanalysis, as in an analysis session, everything is constantly under construction. The Clinic is “public” in two senses – it is free, and is created and transformed by its users. The Clinic was established in 2016 as part of the Vila Itororó Open Construction Site in São Paulo, where it continues to this day. Each month, it hosts about 350 free indivi-dual and collective therapeutic sessions. It emerged from my proposal, then responsible for the public formation of the open site, starting from my re-encountering former residents of the Vila and in the dialogue with the psychoanalyst Daniel Guimarães, who was interested in popular and non-elitist psychoanalysis. The Clinic was conceived as an act of reparation for the violence that took place in this context – the forced removal of residents to build a cultural center – and also, as one of the many experiments on that site aiming to broaden the idea of culture and what is expected of a cultural center. With a permanent process for the entry of new members, the Clinic is also configured as a space for training.
How does the work of the Clinic look?
When the Clinic was born, we only had indivi-dual sessions. People from outside were always telling us that we should do group sessions because it is a political project. We felt that the former residents of Vila Itororó for years were treated as a mass – nameless, faceless, and without history – and that it was important that they had individual attention, as well as for members of social movements, who often get sick of giving up their individuality in the name of the collective. After a year of the Clinic’s existence – also the year of the Coup d’Etat in Brazil – we noticed that some people had started to meet to talk, informally. There were people who were already patients of the Clinic and people who could not get a pass for the first time but ended up talking to other people, already starting a healing process. After the Coup d’Etat, it was very important that people who were suffering could meet other people to realize that they were not alone. But it was the users who created the group that meets every Saturday today. We just instituted what was proposed by them. And it is important to recognize that the Clinic operates in the middle of a cultural center – a place full of life, with children playing, people rehearsing theatre and circus, dancing, sleeping, cooking in the public kitchen, among the most different spontaneous uses you can imagine. So going to the Public Clinic is very different from going to a hospital. The Public Clinic inserts psychoanalysis into the culture.
Would you call it public art?
I do not use this term because, though beautiful, it usually refers to a work of art installed in the public space. I do not like anything permanently installed in public space. To be public, there must be openness. The people need to take part in decisions and actions.
Does art need artwork as an effect? I’m curious because I think many of your works are more like research studies, that rather end with documentations than so-called “artwork”.
I don’t think art needs works of art. I recently had the opportunity to attend a book premiere in Oslo. The excerpt which was read was a description of a visit to a gallery, guided by an artist who doesn’t produce any works of art. I felt that I wasn’t alone. The refusal of the work of art is very important to me. At the same time, I think you’ve had a wrong impression. Even if my projects assume an open, transformable form, they can also be understood as works (not as documentations of a research). The archive Excerpts from Vila Itororó, for example, points to the insufficiency of the documentary form to witness the constant transformations of a complex context. Instead of making a documentary, for example, two hours long, I chose to understand my work as a documentarian practice. The archive already has 60 excerpts (videos formed by a single take each) and will continue to grow, but it exists as an archive. Political struggles have no end, but the work of art is set in a form, though an open form.
What did you do during your residency in Poland?
Here, I found a theory for my own practice: Oskar Hansen’s notion of Open Form. And I was able to deepen my studies on how Janusz Korczak engaged children in decision-making.
What are you planning now?
Inspired by the Common Space, Individual Space exercise, led by Grzegorz Kowalski, who was Hansen’s student, I worked on a collective drawing experiment with children from the Wolna Szkoła Przygoda [Free School Adventure]. In the beginning, each child designed a home, individually. Gradually, the idea was to make small changes in the homes of others, making them more open or closed. It was interesting, especially since some children suffered a lot in having their drawings altered by their colleagues, and we had to work this out. But I want to repeat the experience in São Paulo, with more time and involving people of different generations – children, youth, adults, and the elderly at the same time. From the exercise and based on the experience of opening my house as a “public residence”, I wrote the text of my first children’s book, which tells the story of two houses, approaching open form vs. closed form.
Abertura para respostas inesperadas
Trago aqui o projeto “Abertura para respostas inesperadas”, finalista do 1º Prêmio Select de Arte-Educação – Categoria Formador, de 2017. Começo com trechos do formulário de inscrição e finalizo com a minha fala no evento presencial do Prêmio, no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo.
Ficha de inscrição
data de início do projeto:
10/03/2015
Técnica/definição
Nesta inscrição uso o nome “respostas inesperadas” para nomear o pensamento educativo que construí nos anos 2015 e 2016, como responsável pela formação de público no projeto Vila Itororó Canteiro Aberto, e também em meus projetos artísticos independentes. Não me inscrevo em nome da instituição, mas escolhi me posicionar na categoria “formadora” por não se tratar de uma obra de arte específica, mas da elaboração de um pensamento em educação, de uma prática educativa. Uma crítica comum às práticas educativas em instituições de arte, mais especificamente às visitas educativas, é que a condução quase sempre tem um objetivo certo. Mesmo que a condução assuma forma dialógica e que educadores façam perguntas ao público, existe a expectativa por respostas específicas. Quando a resposta esperada não é dita, o educador costuma soltar “Na verdade, …”, deixando claro que sua pergunta original era somente retórica. Educadores fazem perguntas cujas respostas já são por eles conhecidas, por vezes frustrando o público, que percebe que o diálogo que se dá ali não é verdadeiro. Nada do que o público disser será realmente relevante, pois tudo está definido antes mesmo que esse público exista como público.
Como realizar uma prática educativa de abertura, que só se complete no outro? Como fomentar uma atuação do público, que, mais que participante, pode se tornar criador? Como conduzir para respostas inesperadas?
Se esta inscrição for selecionada para o seminário, em minha aula irei discorrer sobre algumas proposições/experimentações que realizei, nos últimos dois anos, neste sentido. E devo preservar certo mistério nesta pequena apresentação, com o intuito de estimular que o júri que me lê seja, desde já, instigado a tomar parte nesta reflexão.
Descritivo cronológico
A data que escrevi mais acima, 10/03/2015, foi o meu primeiro dia de trabalho na Vila Itororó Canteiro Aberto. Inicialmente fui convidada para desenvolver um projeto artístico ali e somente a partir de 10/06/2015 me tornei responsável pelo então setor “Educativo”, que eu propus que passasse a se chamar “Formação de público”. (“Formação” não no sentido de ensinamento do público, mas de constituição do público do local e da própria noção de público). O pensamento educativo aqui implicado não se reduz às minhas práticas no Canteiro Aberto e elegi um recorte entre março de 2015 e dezembro de 2016.
Em que sentido o projeto propõe uma pedagogia para as artes?
Em arte e educação muito se fala em escutar. Mas uma escuta verdadeiramente ativa implica escutar o que ainda não conhecemos, ou que não controlamos, ou até mesmo condenamos. Abrir espaço para respostas inesperadas é criar um ambiente de aprendizagem mútua e democrática, que sustente conflitos de forma produtiva.
Certa vez li uma fala do cineasta Eduardo Coutinho sobre a sua prática como documentarista/entrevistador, que para mim diz muito da disposição que nós educadores precisamos ter diante dos diferentes públicos: “É uma necessidade imperiosa ter a colaboração do outro. E essa adesão ao objeto implica uma postura que chamo de vazio, no sentido que o que me interessa são as razões do outro, e não as minhas. Então, tenho de botar as minhas razões entre parênteses, a minha existência, para tentar saber quais são as razões do outro, porque, de certa forma, o outro pode não ter sempre razão, mas tem sempre suas razões”. (Acrescento que isto não impede que, em algum momento, as minhas razões saiam dos parênteses e também sejam colocadas na roda…) A recepção de uma obra de arte não precisa ser consensual – e talvez seja mais interessante que não seja –, assim como a construção de um novo centro cultural público (no caso da Vila Itororó) não pode ser tarefa exclusiva de um pequeno grupo de pessoas.
Público alvo e impacto em comunidades e grupos
Formar público não é o mesmo que atingir público. “Público alvo”, no meu entendimento, pressupõe a existência de um público dado, ou de públicos dados, e a realização de atividades direcionadas a esses públicos. E se invertermos essa relação, praticando uma escuta verdadeira, de modo que seja o público propositor daquilo que deseja? Que o próprio público se defina como público, até mesmo na recusa de participar de determinado processo?
Darei o exemplo do primeiro público que busquei engajar no canteiro da Vila Itororó: as pessoas que ali viveram, que hoje moram em prédios CDHU localizados na região. Se o projeto de transformar a Vila em um centro cultural tinha entre seus objetivos não revelados colaborar na gentrificação em curso no Bixiga, diversas atividades que aconteceram no canteiro em 2015-2016 podem ser compreendidas como uma resistência a esse processo. Em outras palavras, se há alguns anos famílias pobres foram retiradas do contexto, hoje existem esforços para que permaneçam na área. Que não sejam tratadas como objetos de um passado remoto, mas como sujeitos da construção de um centro cultural, no presente.
No âmbito da formação de público, destaco o engajamento de ex-moradores em três ações: 1) participação no coletivo do bairro, responsável por definir parte do uso da verba de programação; 2) organização das festas juninas em 2016 e 2016; 3) uso da Clínica Pública de Psicanálise, cujo impacto profundo somente elas e eles poderão expressar.
Vídeos sobre o projeto
Escolhi um único vídeo como suporte desta inscrição, que mostra um momento de brincadeira livre no canteiro da Vila Itororó: https://vilaitororo.naocaber.org/ (ver pág. 3, vídeo número 30)
No galpão do Canteiro Aberto existem estruturas de madeira como escorregador, balanço e paredinha de escalada para crianças brincarem, mas há também muito espaço livre, cantinhos, bolas e tecidos. No lugar de reduzir o programa educativo a uma grade de oficinas e visitas educativas, de diferentes modos foi estimulado o livre brincar – atividades não dirigidas e, no caso das crianças, sem mediação de adultos (que podiam ficar por perto, observando ou brincando também). Não havia ali um chão especial para se brincar, mas somente o entendimento do galpão – cujas portas ficam totalmente abertas – como uma extensão da rua. Se hoje já não são comuns brincadeiras de rua em São Paulo, no pátio da Vila Itororó essa cultura foi preservada até 2011, ano da retirada das famílias que viviam no local.
Documentação de práticas educativas da autora em anexo
A inscrição acima foi selecionada entre os 4 formadores finalistas do Prêmio. Segue o texto dito na ocasião:
Boa noite. Nos últimos anos, quase todas as vezes em que inicio uma palestra, conto ao público que a minha fala não foi previamente preparada. Que imaginei conteúdos para responder a cada demanda ou a cada contexto, ou mesmo um caminho possível, mas que a minha fala será formada ali, diante da plateia, na expectativa que as pessoas presentes acompanhem o próprio processo de formação do meu pensamento.
Por ocasião da divulgação do resultado da segunda etapa deste prêmio, nós selecionados como finalistas recebemos a demanda de enviar uma apresentação de slides já na ordem da nossa apresentação, que ocorreria somente em duas ou três semanas, já não me recordo ao certo. E que cada apresentação teria a duração máxima de vinte minutos.
A eficiência almejada nesse pedido me assustou. E decidi que não enviaria imagem nenhuma, e que faria uma reflexão crítica sobre essa eficiência.
A “eficiência” é descrita no dicionário como a “capacidade de produzir um efeito”. Mas o que é produzir um efeito na arte, ou através da arte? Ou, como tornar uma apresentação como esta, neste contexto, de um prêmio em arte e educação, de fato eficiente?
Alguém pode estar se perguntando por que uma pessoa que desejou ter mais tempo de fala está usando longos minutos para discorrer sobre isso, no lugar de simplesmente dizer o que tem a dizer.
É porque a experiência como formadora que trago aqui hoje só foi possível pela recusa de tudo ser definido de antemão, por uma pessoa sozinha ou um pequeno grupo de pessoas. Era preciso envolver o público no processo de definição. Ou, me corrigindo, constituir um público – que ainda não existia como tal – conforme o próprio processo caminhasse.
Mesmo que esta apresentação tenha sido previamente escrita, acredito que a desaceleração que proponho aqui possa estimular um maior engajamento de vocês na minha fala, ou no meu pensamento em educação.
Chamei a minha inscrição aqui no prêmio de “respostas inesperadas” para defender a pedagogia implicada em não controlarmos totalmente certos processos.
[ vídeo brincadeira livre ]
[ após o vídeo, passar para a próxima tela branca ]
Ao receber o convite do curador Benjamin Seroussi para assumir a posição de “coordenadora do educativo” do canteiro aberto da Vila Itororó, a minha primeira proposta foi cortarmos as palavras “coordenadora” e “educativo”, usando no lugar “responsável pela formação de público”. “Responsável” como a pessoa que responde por aquela função, e “formação” não como ensinamento do público, mas constituição do público local e da própria noção de público. Além disso, formar público não deveria ser confundido com atingir público. A expressão “público alvo” pressupõe a existência de um público dado, ou de públicos dados, e a realização de atividades direcionadas a esses públicos. E se invertermos essa relação, praticando uma escuta verdadeira, de modo que seja o público propositor daquilo que deseja? Que o próprio público se defina como público, até mesmo na recusa de participar de determinado processo?
A Vila Itororó, localizada na Bela Vista, compreende um conjunto de casas ao redor de um pátio e foi inaugurada em 1922. A Vila sempre teve como uso principal a moradia, mas desde os anos 70 existe um projeto de transformá-la em um centro cultural. Esse projeto foi retomado pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo em 2006, as famílias que moravam ali organizaram uma resistência coletiva contra o projeto, que durou mais de cinco anos, até serem retiradas dali. Elas conquistaram o direito de permanecer na região, em prédios CDHU verticais, mas não puderam escolher permanecer na Vila.
A Vila foi tombada como patrimônio e se encontra em processo de restauro, pelo Instituto Pedra junto à Prefeitura de São Paulo. No lugar de fazer uma obra de restauro durante anos de portas fechadas, para ao final desse processo inaugurar um centro cultural pronto, definido por poucas pessoas – definido por um prefeito, um secretário da Cultura e um pequeno grupo de arquitetos –, o projeto Vila Itororó Canteiro Aberto consiste na construção cotidiana e coletiva, em pleno canteiro, de uma experiência de centro cultural. Não necessariamente o centro cultural do futuro, o que a Vila Itororó ainda virá a ser. Pois isso dependerá das pessoas do poder. Mas a construção de um centro cultural hoje, no presente.
Há dois sentidos implicados na abertura do canteiro de obras. O primeiro, compartilhar – e debater publicamente – o processo de restauro, de modo que as discussões não fiquem restritas aos órgãos do patrimônio. O segundo sentido, e para mim o mais potente, não se refere à materialidade das edificações (o que demolir, o que preservar), mas ao seu programa de usos. É a possibilidade de experimentarmos e debatermos potenciais usos futuros da Vila. Ou admitir que sobre o futuro nada sabemos, e que temos que encarar a Vila Itororó como ela é hoje, na espessura do presente. Já não é possível reverter a retirada dos moradores, pois a política habitacional do CDHU veta que famílias beneficiadas sejam novamente atendidas. (Teria que haver muita vontade política lá em cima e muita luta aqui embaixo). Mas de que outros modos elas e eles podem voltar a habitar a Vila? Como habitar a cultura? Como fazer um centro cultural habitado?
Essas foram as perguntas que fiz na primeira convocação aos ex-moradores, na forma de um panfleto e um cartaz, antes mesmo de o canteiro abrir as portas. Eu já tinha uma relação com essas famílias, pois em 2006 colaborei ativamente no processo de resistência, e fui até os prédios CDHU conversar sobre o novo momento do projeto de centro cultural. Contei que a equipe que estava trabalhando ali não era formada pelos agentes de expulsão das famílias, que havia um reconhecimento da violência de todo o processo e um desejo de colaboração. A primeira ação em que engajei ex-moradoras e ex-moradores foi o projeto artístico de Mônica Nador, e é também o primeiro exemplo que quero dar do que estou chamando de “respostas inesperadas”.
A obra da Mônica consistiu na criação de um arquivo de padrões visuais da Vila Itororó, na forma de pinturas estêncil, que foram produzidos em oficinas, ao longo de três meses. Os participantes das oficinas circulavam pela Vila e desenhavam detalhes de arquitetura – um piso de ladrilho hidráulico, uma grade, uma janela –, que eram convertidos em máscaras de estêncil. O que desenharam os ex-moradores? Uma árvore, um grafite de um muro e um puxadinho.
Sobre o puxadinho, conto a história de uma segunda resposta inesperada. Certa vez eu estava ao lado de uma ex-moradora da Vila, quando ela expressou a tristeza de ver que muitas casas pequenas haviam sido demolidas no início do processo de restauro. Eram casas térreas construídas nas últimas décadas, ao lado e atrás do casarão e ao redor da piscina, com tijolo baiano, que não geraram interesse arquitetônico. Eu comentei que estava feliz de ver que ao menos o puxadinho, bem no centro da fachada do casarão, ainda estava lá, resistindo, e que, para mim, é um símbolo da história recente da Vila e também deve ser compreendido como patrimônio. Ela respondeu: “O símbolo da Vila eram seus moradores”.
Em arte e educação muito se fala em escutar. Mas uma escuta verdadeiramente ativa implica escutar o que ainda não conhecemos, ou que não controlamos, ou até mesmo condenamos. Abrir espaço para respostas inesperadas é criar um ambiente de aprendizagem mútua e democrática, que sustente conflitos de forma produtiva.
Uma vez li uma fala do cineasta Eduardo Coutinho sobre a sua prática como documentarista/entrevistador, que para mim diz muito da disposição que nós educadores precisamos ter diante dos diferentes públicos: “É uma necessidade imperiosa ter a colaboração do outro. E essa adesão ao objeto implica uma postura que chamo de vazio, no sentido que o que me interessa são as razões do outro, e não as minhas. Então, tenho de botar as minhas razões entre parênteses, a minha existência, para tentar saber quais são as razões do outro, porque, de certa forma, o outro pode não ter sempre razão, mas tem sempre suas razões”. (Acrescento que isto não impede que, em algum momento, as minhas razões saiam dos parênteses e também sejam colocadas na roda…). A construção de um comum implica reconhecermos nossas distâncias e diferenças para, a partir delas, fazer algo junto.
Uma escuta verdadeira não significa uma instituição colher opiniões ou sugestões diversas do que pode ser feito. Ou não apenas isso. No canteiro da Vila, a principal forma de participação do público se dá no uso cotidiano que o público dá ao espaço. Como eu disse antes, as experimentações diversas realizadas no canteiro hoje poderão inspirar os usos futuros da Vila. Para que esses usos sejam diversos, abrangentes e mesmo surpreendentes, a proposta curatorial mais significativa para o espaço foi pensar o galpão de entrada no canteiro como uma grande praça, aberta a usos espontâneos pelo público. Um pouco como ocorre na marquise do Parque do Ibirapuera, nas áreas comuns do Centro Cultural São Paulo e como era o projeto original da rua do SESC Pompeia.
Junto dos primeiros usuários fui responsável por redigir um conjunto de “regras para usos espontâneos”, o que pode parecer uma contradição. (Afinal, espontâneo deveria ser espontâneo, não algo ordenado ou induzido. Mas há situações em que a gente precisa de alguma orientação, para chegar a ser livre). Essas regras podem ser quebradas, mas existem para fomentar uma atuação pelo público e tentar garantir a vida coletiva; que diferentes pessoas e ações possam viver junto, sem que um grupo ou uso espontâneo se sobreponha aos demais.
Resumidamente, a primeira regra é que as ações devem acontecer nos horários de abertura e nos espaços determinados pela equipe de ativação cultural (não é possível reservar uma área no galpão); 2) Não podem ter natureza ou fins comerciais, publicitários ou partidários; 3) Cada indivíduo/grupo deve respeitar os demais indivíduos/grupos que usam o espaço, aí incluídos trabalhadores permanentes do canteiro; 4) Não são acolhidas feiras, exposições ou apresentações diversas como parte dos usos espontâneos. São priorizados processos e ensaios, não resultados, por se tratar de um canteiro de obras onde tudo – incluindo a própria noção de cultura – está em construção; 5) As regras coletivas podem ser revistas e repensadas pelo público junto à equipe de ativação cultural e novas regras podem ser criadas, a partir de inspirações, necessidades e problemas que surgirem dos próprios usos.
Foram muitos os usos espontâneos até aqui: ensaios de diversos grupos de circo, teatro, música e dança; uso da cozinha do canteiro para cozinhar e comer; uso de bancos para descansar e dormir; uso das mesas para estudar; piqueniques; comemorações de aniversário; encontros de mães e bebês, em que bebês brincam e as mães trocam experiências sobre a maternidade/se ajudam mutuamente; encontro de doulas; rodas de samba; partidas de futebol; skate; massagem; bordado; pintura; xilogravura; tarô; esgrima; assembleias de estudantes secundaristas em luta; e reuniões do MTST – Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto. Pessoas em situação de rua que há anos vivem nas ruas do entorno, além de participarem das atividades regulares do espaço e poderem ali transitar com seus cachorros, usam as pias dos banheiros para tomar banho – apontando a necessidade de um dia a Vila Itororó ter chuveiros públicos –, e já usaram o banheiro para namorar, levantando a necessidade de existirem motéis públicos na cidade. Esses usos por moradores de rua podem ser comuns em outros centros culturais de acesso gratuito, mas no canteiro da Vila Itororó ações cotidianas aparentemente banais ou mesmo criminalizadas, se levadas a sério, têm o potencial de alimentar e transformar o projeto (e consequentemente alargar a própria noção de cultura, de centro cultural).
Eu gostaria de destacar dois usos espontâneos, para descrever como se deram, em 2015 e 2016, as noções de formação de público e de habitar a cultura, que sempre caminharam juntas. Entre os primeiros usuários do espaço estava uma dupla de circo vizinha da Vila Itororó, a Trupe Baião de 2. Começaram a treinar semanalmente ou quase diariamente ali e, aos poucos, foram atraindo outros grupos de circo para ensaiar no galpão. Um dia a Trupe Baião de 2 apresentou um espetáculo no galpão. As regras de usos espontâneos não permitem espetáculos, mas era inevitável que apresentassem ali o trabalho que havia sido criado e cultivado ali. No dia das crianças de 2015, eles foram por nós convidados para dar uma oficina de circo para crianças, com remuneração, e, desde então, se tornaram os professores de circo oficiais do canteiro aberto. Quando foi formado o coletivo do bairro, que é um coletivo de caráter horizontal e inter-geracional (ou seja: formado por crianças, jovens, adultos e idosos), que se reunia quinzenalmente para debater a Vila Itororó e definir parte da verba da programação cultural do canteiro, com a minha mediação, esses artistas de circo também se tornaram membros do coletivo. Em 2016, organizaram uma quadrilha de perna de pau na festa junina da Vila e, mais recentemente, junto a todos os demais artistas de circo que passaram a ensaiar no galpão, formaram o Coletivo Circense do Bixiga, que já auto-organizou dois festivais no canteiro aberto. Para a nossa equipe, os usos pelo coletivo de circo apontavam a necessidade de uma das casas da Vila abrigar, no futuro, atividades do circo e, quem sabe, ser habitada e gerida por pessoas de circo. Conforme a pesquisa histórica sobre a Vila avançou, descobrimos que diversas famílias de circo moraram na Vila entre os anos 40 e 80. Uma dessas famílias inclusive vivia em um trailer, estacionado atrás do casarão.
[ assembleia de ex-moradores ]
O outro uso que quero destacar, e essa é uma das poucas imagens que escolhi mostrar aqui hoje, foi a assembleia auto-organizada por ex-moradores da Vila Itororó no galpão, em novembro de 2016. Nesta assembleia estiveram presentes aproximadamente 70 ex-moradores, para discutir o andamento do processo de reconhecimento de usucapião de suas casas.
Foram muitas as colaborações na Vila entre abril de 2015 e novembro de 2016 que envolveram ativamente os ex-moradores, como o mencionado coletivo do bairro e as festas juninas, cujos registros podem ser vistos no site do projeto, por quem se interessar. Mas esta foi a primeira vez que elas e eles auto-organizaram uma atividade totalmente sozinhos, sem a minha mediação. Foram quase dois anos de trabalho para que elas e eles agissem com autonomia.
[ próxima tela branca ]
Além de fomentar usos espontâneos, parte das minhas responsabilidades como formadora de público foi estimular a brincadeira livre no canteiro – atividades não dirigidas e, no caso das crianças, sem a mediação de adultos (que podiam ficar por perto, observando). Como vocês puderam ver no vídeo que mostrei, no galpão existem estruturas de madeira como escorregador, balanço e paredinha de escalada para crianças brincarem, mas há também muito espaço livre, cantinhos, bolas e tecidos. Não há ali um chão especial para se brincar, mas somente o entendimento do galpão – cujas portas ficam totalmente abertas – como uma extensão da rua. Se hoje já não são comuns brincadeiras de rua em São Paulo, no pátio da Vila Itororó essa cultura foi cultivada até 2011 (ano da retirada das famílias) e é importante que não se perca; que seja compreendida e preservada como patrimônio imaterial. A última ação de formação de público no canteiro aberto que escolho compartilhar com vocês é a Clínica Pública de Psicanálise, concebida junto aos psicanalistas Daniel Guimarães e Tales Ab’Sáber, sendo que este último já não faz mais parte do projeto, por diferenças metodológicas que emergiram da nossa prática, durante os seis primeiros meses de existência da Clínica.
A ideia da clínica é atender gratuitamente ex-moradores da Vila Itororó e outras vítimas de violência do mercado e do Estado, um pouco como uma política de reparação do que se deu ali. Mas aqui quero falar das minhas motivações para a criação da Clínica, desde a educação. Um psicanalista pode ter muito conhecimento em arte, em cinema, em matemática etc., mas só vai mobilizar esse conhecimento a partir do que o analisando traz. Em outras palavras, só vai falar a partir de uma escuta atenta da fala – ou do silêncio – do outro. Até que os dois, analista e analisando, constróem uma só fala.
[ crianças na sala da Clínica Pública ]
A imagem que escolhi aqui mostra uma resposta inesperada de crianças ex-moradoras da Vila brincando no espaço da Clínica. Se em psicanálise normalmente há um “setting – um arranjo – determinante”, na Clínica Pública da Vila Itororó, como diz meu companheiro Daniel, “quem faz o setting é o povo”. As crianças batizaram a Clínica de “o lugar da calma”.
[ próxima tela branca ]
Finalizo esta apresentação deixando claro que tudo que narrei aqui foi um trabalho muito coletivo, mas que considerei este prêmio uma ocasião importante para sistematizar um pensamento e uma prática pedagógicos e refletir sobre o meu papel nesse processo, como artista, intelectual e educadora. Especialmente neste momento, em que acabo de deixar o projeto Vila Itororó Canteiro Aberto. É uma partida triste, mas ao mesmo tempo feliz. Se fui chamada ali para formar um público, considero esse público formado. Autoformado. A Vila Itororó poderá um dia se tornar o pior centro cultural; elitista, cafona, turístico. Mas ainda pode ser tudo o que fizemos dela no presente.
[ foto Nelson Kon ]
Até mesmo uma grande agrofloresta, como na foto feita por Nelson Kon em 2014. Agradeço a todas e todos pela oportunidade.
Um filme não realizável, uma prática documentária
[Socine, 2009 e Periódico Permanente, 2016]
Clique aqui para baixar/ler a versão PDF desta comunicação, publicada na revista Periódico Permanente nº 6, 2016 (Editores residentes deste número: Cayo Honorato e Diogo de Moraes. Design: Vitor Cesar)
Para começar, gostaria de agradecer a presença de vocês nesta sessão. O Projeto Mutirão, que eu vou apresentar agora, tem uma forma um pouco diferente. Ele não é um filme curta, média ou longa metragem, mas só existe em situações como esta, de conversa, aula, palestra. Assim, cada vez que algumas pessoas se dispõem a escutar e ver o Projeto Mutirão elas se tornam colaboradoras do trabalho, tornam possível a própria existência do trabalho. Eu vou me apoiar em algumas passagens escritas para não ultrapassar os 20 minutos, mas espero que vocês consigam me compreender.
Em um dos textos de apresentação da exposição A respeito de situações reais (São Paulo, Paço das Artes, 2003), o crítico e roteirista Jean-Claude Bernardet comenta o recrudescimento da produção de documentários no Brasil. Para ele, o público relativamente numeroso de um filme como Edifício Master (Eduardo Coutinho, 2002), entre outros documentários brasileiros, criava um quadro favorável à abertura de um amplo debate sobre o documentário. Debate que ele próprio iniciou: “pode-se observar que, de par com o aumento da produção e uma relativa variedade de assuntos, existe uma certa pobreza de dramaturgia. Prevalecem métodos descritivos e o recurso à entrevista, em detrimento de outras estratégias, de outras formas de narração, investigação, observação e análise”[1]. Mais de quatro anos depois, em 2007, com o lançamento de Jogo de cena (Eduardo Coutinho) e de Santiago (João Moreira Salles), as palavras visionárias de Bernardet ganharam forma. O que ele próprio reconheceu, ao afirmar que os dois documentários são “a prova de que o ensaio filosófico é possível no cinema, não como falação ilustrada por imagens, mas pelo aproveitamento e aprofundamento dos recursos da linguagem cinematográfica”[2]. (mais…)
O que a Tarifa Zero, os bancos e as concessionárias de automóveis poderiam ter em comum mas ainda não têm
A contribuição que eu havia pensado originalmente para o projeto/livro “Vocabulário Político para Processos Estéticos”, organizado por Cristina Ribas, era contar, desde a minha experiência, como vi a expressão “Tarifa Zero” no transporte coletivo aparecer, ser debatida (inclusive negada) e se transformar ao longo dos últimos nove anos. Eu queria contar da emoção que eu e pessoas de luta próximas como Lúcio Gregori (criador do projeto Tarifa Zero nos anos 1990) e Daniel Guimarães (criador do website TarifaZero.org em 2009) sentimos hoje toda vez que uma multidão de rua grita “Tarifa Zero”, porque foi um longo processo até essa expressão ter sido assumida por todos os coletivos do Movimento Passe Livre e, pouco a pouco – com muito trabalho de base em escolas e comunidades, além dos materiais impressos e das manifestações de rua -, ser apropriada por tantas pessoas. Não cheguei a redigir esse texto e, no processo de organização desta publicação, acabei escrevendo e publicando um outro texto relacionado ao tema, objetivando contribuir diretamente em um processo político, mais que em processos estéticos. A Cris perguntou se eu não teria vontade de publicar este texto também no Vocabulário e, inicialmente, achei que não fazia muito sentido. Ao voltar ao texto, lembrei que seu objetivo principal era trazer para o debate público a Tarifa Zero, no momento em que a grande imprensa escolheu ofuscá-la, colaborando no processo de criminalização das lutas por mudanças sociais e espaciais. E o que é este Vocabulário, senão tornar visíveis certos termos e contextualizá-los?
Não sei se o texto que segue irá colaborar em processos estéticos – espero que sim -, mas estou muito contente de contribuir na publicação desde os movimentos políticos. (mais…)
Eu pensava em estruturar uma fala para apresentar meus trabalhos da melhor forma possível para vocês mas [MAC, 2011]
Eu pensava em estruturar uma fala para apresentar meus trabalhos da melhor forma possível para vocês mas, ao invés de o MAC me encontrar, eu acabei optando por tentar encontrar o MAC.
Em uma conversa preparatória da atividade de hoje, a Luiza Proença, do grupo que está organizando esses encontros junto ao Tadeu Chiarelli, me disse que uma pergunta que ela tem feito a quase todos os artistas que vêm aqui é: “O que você espera do MAC?”
Coincidentemente, antes de ouvir essa pergunta da Luiza, eu vinha pensando em doar todos os meus trabalhos de 1999 até hoje, incluindo algumas correspondências pessoais, a um museu público. Todos os meus trabalhos estão muito mal guardados, em minha casa, muitas coisas já se perderam… e eu só conseguia pensar no MAC. Mesmo sem saber nada sobre o estado atual do MAC, o meu desejo era, de alguma forma, estar perto da história do MAC. O MAC do Parque do Ibirapuera. Dialogar com aqueles artistas que, nos anos 1970, fizeram coisas incríveis junto ao museu.
Eu venho tentando fazer esse diálogo já há algum tempo. Em 2007, em função de uma pesquisa para o curador alemão Heinz Schutz, e seguindo orientações de Mario Ramiro e Maria Olimpia Vassão, (mais…)
Entrevista com Simon Sheikh sobre a 29a Bienal [2010]
com Ana Letícia Fialho. Entrevista originalmente publicada na revista Trópico, seção Em obras.
O crítico de arte e curador dinamarquês Simon Sheikh (1965) esteve em São Paulo durante um mês, numa viagem de pesquisa de um grupo da The Royal Danish Academy of Fine Arts. Nesse período, ele pode visitar várias vezes a 29ª Bienal de São Paulo e examiná-la com muita atenção. Sheikh também desenvolve atualmente uma pesquisa sobre exposições de arte e imaginários políticos na Universidade de Lund, é orientador do projeto “Former West” e curador da exposição “Vectors of the possible” (na BAK, em Utrecht). Além disso, ele é editor da série de livros “OE Critical Readers”, na qual se destaca a obra “In the Place of the Public Sphere?” (2005). A fim de conhecer as reflexões de Sheikh sobre a Bienal, Trópico o entrevistou, estruturando as questões a partir dos tópicos arte e política, criticalidade, contexto e historicização, mediação e da noção de exposições de arte como “espaços de esperança”, tese defendida por ele. Segundo o curador, para que as bienais sejam lugares de esperança, e não somente do capital, elas precisam “estar mais ancoradas em seus contextos e comunidades e menos nas estruturas de poder e interesses econômicos do mundo internacional das artes”. (mais…)
Entrevista com Pedro Arantes sobre projeto no Assentamento Ireno Alves [2008]
De manhã:
a) Fala inicial sobre a situação atual do assentamento Ireno Alves dos Santos e sobre o projeto do Núcleo Urbano na antiga vila barrageira por um dos coordenadores do movimento;
b) Apresentação do resultado das discussões sobre Produção, Gestão e Vida coletiva, realizadas no primeiro Seminário (sistematizadas no relatório já apresentado), com relato dos assentados que haviam participado daqueles debates;
c) Exibição de slides pela USINA do seu trabalho em São Paulo de produção de habitação junto aos movimentos de moradia e em seguida, slides do seminário realizado na vila barrageira e imagens de como ela era anteriormente. Neste ponto eram convocadas pessoas a avaliar o seminário e a história de transformação da vila;
d) Os participantes dos seminários (de 60 a 150) eram divididos em três rodas de debate, das quais participavam uma liderança local e um assessor técnico da USINA. As perguntas que orientavam o debate eram:
– histórico e nome da comunidade
– o que já avançou?
– o que falta avançar? (surgindo daí propostas)
Trecho de relatório dos seminários das comunidades do Assentamento Ireno Alves dos Santos – MST
Em junho de 2008, no contexto da minha pesquisa de mestrado (Projeto Mutirão, ECA-USP), perguntei ao arquiteto Pedro Arantes, membro da USINA, se ele poderia me apresentar algum projeto desta assessoria que só houvesse existido como projeto. Isto é, que não tivesse sido realizado, ou talvez não em sua totalidade. Pedro me concedeu um depoimento de uma hora e trinta minutos, transcrito a seguir, sobre uma experiência desenvolvida junto ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) entre os anos 1998 e 2002, no interior do Paraná. Para minha surpresa, não se tratava de um projeto de edificações, mas de um projeto de cidade. Esta história inspirou o projeto editorial da revista Urbânia 4. (mais…)